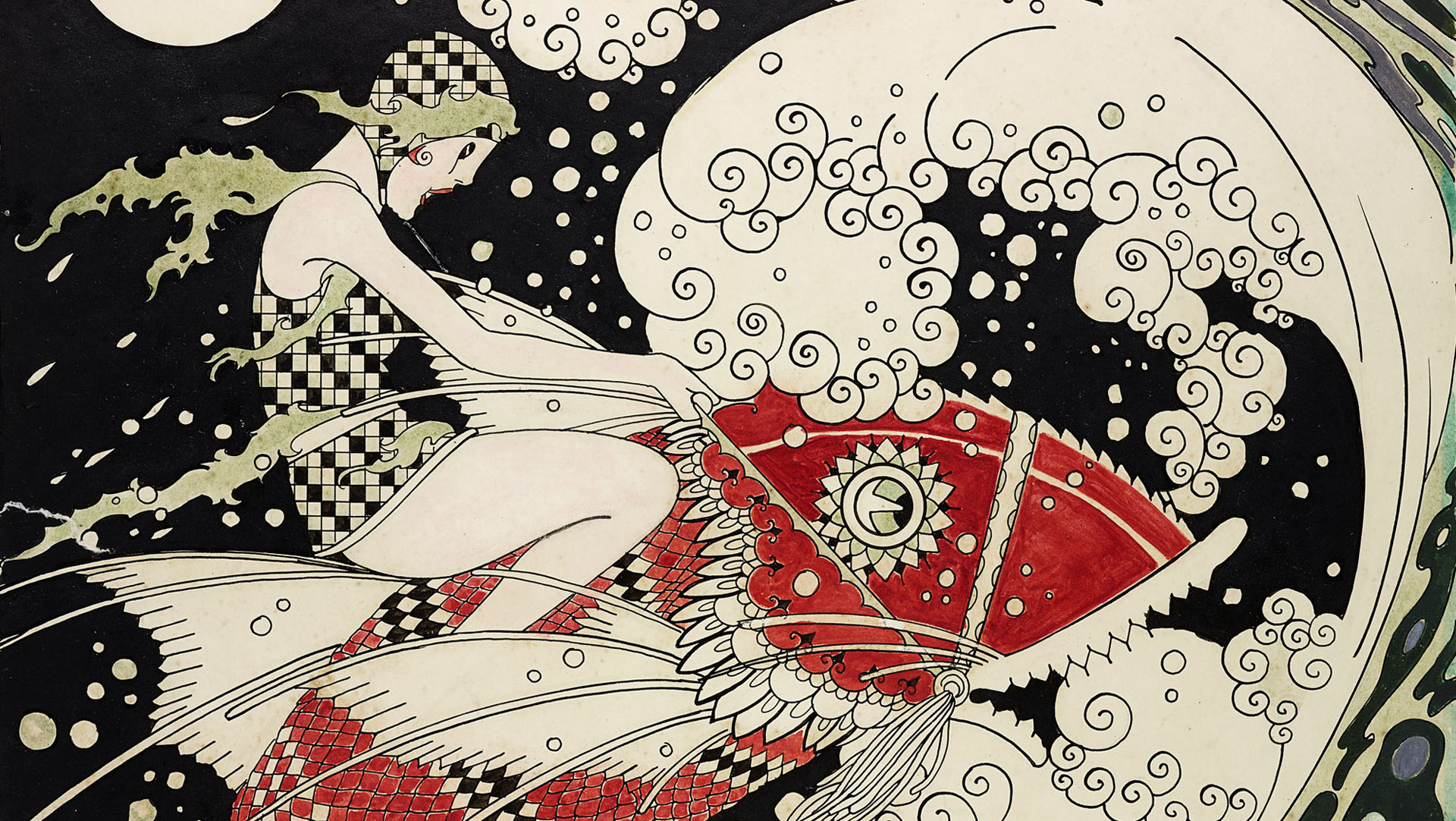A crônica abaixo foi publicada em dezembro de 1974 na revista Manchete e integra o acervo de Paulo Mendes Campos no IMS.
Ninguém me ama… Ninguém me quer… Ninguém telefona…
Não era nada disso. Era uma vez um menino gordo. Era uma vez um homem que transpirava. Transpirava inacreditável quantidade de líquido e de tudo o mais que existia dentro dele: lirismo, senso cômico, irrisão, ternura, raivas, saudade, gula, inteligência, sofreguidão. Antonio Maria era um moço que se esvaía, gastando o dia todo os elementos de sua personalidade, virtudes e defeitos. Versos famosos de Bocage (Meu ser evaporei na lida insana do tropel das paixões que me arrastavam) serviriam muito bem para seu epitáfio.
Que ele mesmo se apresente: “Com vocês, por mais incrível que pareça, Antonio Maria, brasileiro, cansado, 43 anos, cardisplicente (isto é: homem que desdenha o próprio coração). Profissão: esperança.”
Hoje teria 53 anos. Morreu como viveu, na rua, na noite, há 10 anos, na madrugada de 15 de outubro.

Que ele mesmo conte: “Em março nascia Antonio, e, após o momento dramático em que lhe foi cortado o cordão umbilical, precisou adquirir oxigênio por seu próprio esforço (a respiração), e seu alimento pelo ato da lactação. Coitado! Como sabeis, a lactação não é simplesmente o prazeroso processo de sugar leite, e sim um período transitório entre a total dependência e a separação entre o filho e a mãe. E que fazia Antônio? Agarrava-se amorosamente à sua confortável mater, vivendo, em desespero, os últimos dias do contato geral com o ser materno”.
Esta sede aflita jamais o deixou, mesmo depois que os médicos lhe prescreveram as medidas da parcimônia. Era um desmedido.
Era um gordo, mas um gordo que tinha a inesperada agilidade dos elefantes, a mental e a física. Sempre disse com muito orgulho que só sabia fazer bem uma coisa: dirigir automóvel. De fato dirigia magnificamente bem seu vasto Cadillac, com muita cadência e segurança.
Uma vez, no antigo Vogue, em plena madrugada boêmia, foi um custo dissuadi-lo a desistir de disputar uma corrida do Rio a Petrópolis com Fernando Chateaubriand. Ninguém segurava Antonio Maria, a não ser o senso humorístico, e foi para este setor que tive de apelar.
O automóvel lhe dava uma mobilidade surpreendente, uma espécie de ubiquidade que todos aceitavam; ninguém se espantava de vê-lo no Sacha’s e, poucas horas depois, de sabê-lo ainda pegando um fim de noite numa boate de São Paulo.
Algumas vezes levou-me, em horas mais estapafúrdias, a um restaurante do início da subida de Petrópolis, onde eu poderia (ou deveria) comer um filé assim assim ou um frango assim ou assado. Não era então apenas a disponibilidade do motorista que se manifestava: era o guloso que se agarrava ao pretexto de levar alguém para jantar a fim de não resistir, de dar uma provada e encomendar pela segunda vez um prato caprichado.
Costumava chegar tarde na casa de Stella e Dorival Caymmi e ir entrando sem mais aquela até a copa, abrir a geladeira, tomar um ou dois litros de água e devorar um prato glacial de feijão. Retornava à sala e suspirava com santa gratidão: “Que coisa divina!”
Uma madrugada entrou na casa dos Autuori: Leônidas, o conhecido maestro; Sílvia dava aulas matinais de culinária na televisão. Dessa vez, o gordo não entrou diretamente para a copa, mas conversou na sala algum tempo; assim, quando foi lá dentro não chamou atenção. Demorou uns poucos minutos. Daí a pouco era Leônidas Autuori que voltava lá de dentro e, de braços caídos, anunciava para a mulher: “Imbecil foi na geladeira e comeu o programa de amanhã!” Imbecil era carinho, mas a ausência de artigo dispensava nomear o autor do crime.

Uma noite, um avião especial pousou no Recife com destino a Paris. Foi uma festa no aeroporto de Guararapes: Dona Diva, com filhas e outros parentes, lá estava para receber o querido filho Antonio Maria. Quando este retornou ao avião, vinha às gargalhadas, derramando lágrimas, carregando um enorme balaio repleto de garrafinhas de refrigerantes, frangos, sanduíches de várias qualidades e frutas nordestinas. Antonio Maria parou à entrada do corredor e exibiu o balaio: “Olhem só, pessoal! Minha mãezinha está pensando que Paris é como no sertão de Pernambuco!”
Os companheiros de viagem divertiram-se com os zelos de Dona Diva, mas alguém gritou-lhe: “Sei lá, Maria, coração de mãe não se engana.”
Uns três dias depois, eu o visitei ao meio-dia no seu quarto do Hotel Vernet, em pleno Champs Elysées. Disse-me: “Minha mãe é que conhece Paris. Se não fosse ela, eu ia passar sede e fome aqui de madrugada; nem dólar comove disciplina de hotel francês.” Olhei para o balaio: não continha uma só garrafinha cheia, uma fruta, um frango, um sanduíche. Mãe de Antonio Maria não podia se enganar.
Já no fim, colocado em dieta rigorosa, convidava os amigos para a feijoada e ficava de fora, bancando apenas um experimentado locutor de futebol: “Vai naquela costeleta, Lobinho! Acredita no molho à sua frente, Paulo Cabral! Não fique parado aí na área, Reinaldo!”
Um dos grandes garfos do Brasil (páreo para o pintor Raimundo Nogueira, para o cantor Túlio de Lemos, para o humorista Sérgio Porto) havia pendurado na parede seu instrumento de trabalho. O curioso é que seu amigo mais fraterno e inseparável — o saudoso locutor Reinaldo Dias Leme — era incapaz de comer até o fim uma coxa de passarinho.

Foi homem de muitos amigos e de alguns poucos amargos inimigos. Merecia uns e outros, certo. Um jovem português que andou por aqui, muito trêfego e simpático, o Carlos Maria, costumava dizer: “O Antonio é um santo”. Não era, mas possuía um dom que neutralizava seus defeitos ou impulsos maldosos: era o primeiro a confessá-los e gozá-los.
Vinicius de Morais, o Poetinha, era do peito, e Dorival Caymmi, Jorge Amado, Paulo Soledade, Ismael Netto, Aracy de Almeida, Dolores Duran, Fernando Ferreira. Com Fernando Lobo, amigo de adolescência, a constante troca de picuinhas às vezes azedava; acabavam sempre fazendo as pazes e voltando à adolescência.
Com Ary Barroso as picuinhas também existiam, embora nunca se azedassem. Um dia, Ary perguntou a Maria se este sabia cantar “Aquarela do Brasil”. Perfeitamente. E cantou. Retornou Ary: “Agora me pergunta se eu sei cantar ‘Ninguém me Ama’?” — “Você sabe cantar ‘Ninguém Me Ama’?” — “Não sei, Antonio Maria, não sei!”
A vida não era levada a sério por essa geração de boêmios brilhantes. Deliberadamente, preferiam todos conservar a mesma gratuidade dos tempos de estudante e da luta de foice pela sobrevivência. O sucesso e o dinheiro não empavonavam os meninos. Só as crises sentimentais e as mágoas de perder amigo tisnavam de alguma passageira dramaticidade os alegres rapazes da música e da literatura.
Maria veio do Recife, o Recife de Haroldo Matias, Cebola, Colasso, dos maracatus que voltavam cansados com seus estandartes pro ar. Teve avô rico, teve pai de situação financeira estável. Depois, numa das reviravoltas do açúcar, a família ficou pobre: “Quando comungávamos, tínhamos direito a várias xícaras de café, meio pão e manteiga. Depois, vínhamos andando ao longo da Rua Formosa para tomar conta do domingo, que nos oferecia os seguintes prazeres: das 9 às 11, jogo de botão, em disputa de um campeonato que nunca terminou. Ao meio-dia, violento almoço de feijoada, com porco assado. Às 2, pegar o bonde avenida Malaquias e assistir a mais um encontro entre Náutico e Sport, acontecimento da maior importância na plana existência do Recife. Depois voltávamos cansados, íamos ao Politeama — se sobrasse um dinheirinho — e dormíamos de consciência tranquila o longo sono dos que ainda não foram ao Vogue, ao vento do Capibaribe, fresco, sem umidade, macio, sem cheiro de Botafogo e Leblon.”
Depois do curso ginasial e do curso do Cabaré Imperial, o primeiro emprego na rádio. Em 1940, no Rio, acabou arranjando emprego na Rádio Ipanema como locutor esportivo bossa-nova: Antonio Maria Araújo de Morais inventava coisas que não estavam na gramática do futebol —bola no fotógrafo, por exemplo que era tão carlitiano, mas não agradou aos convencionais; perdeu o emprego e começou a peregrinação de um apartamento para outro, ao aboio de proprietários e vizinhos escandalizados.
Resultado: Recife novamente, rádio, jornal, publicidade, quebra-galhos. Veio o casamento, uma temporada no Ceará, outra na Bahia, dois filhos e o Rio outra vez em 1948, na Rádio Tupi e no O Jornal.
Também esse boêmio, que jamais dormia sem o sol ter nascido e esquentado, era uma locomotiva, capaz de puxar toda uma composição de atividades fatigantes, programas radiofônicos, imprensa, jingles, shows, televisão, produção e gravação de músicas.
Chegava suado à casa de amigo e tomava uma chuveirada; bebia um ou dois litros de água e ficava na sala, sem camisa, suando; tomava outro banho, servia-se de uísque, contava casos engraçados e sumia na direção de outro trabalho, para repetir na casa de outra pessoa a mesma coisa, e assim por diante. À noite descansava no Sacha’s, fazendo graças íntimas, onde era obrigado a usar gravata, mas não abria mão do conforto dos pés, usando sapatos feitos de pano e corda.
Em 1952, com grande contrato na Rádio Mayrink Veiga, produzia programas de sucesso, como Alegria da Rua, Regra de Três, e Musical Antártica.
Aos domingos, o vascaíno Antonio Maria, fã de Ademir Menezes, suava nas irradiações do Maracanã. As músicas vieram um pouco tarde, mas em torrente: “Menino grande”, “Ninguém me ama”, “Quando tu passas por mim” (com Vinicius), “Não fiz nada” (com Zé da Zilda), “Valsa de uma cidade” (com Ismael Netto), “Madrugada três e cinco” (com o mesmo e mais o amigo Reinaldo Dias Leme), “Suas mãos” (com Pernambuco), “Manhã de carnaval” e “Samba do Orfeu” (com Luiz Bonfá) etc.
Morreu de repente, em Copacabana, às três e cinco. Foi um gordo vivo, esfuziante, transbordante. Encheu de vida o Rio de Janeiro, e frequentemente São Paulo, no espaço de uma noite que durou pouco mais de 15 anos.
Imagem no topo da página: Antônio Maria e Millôr Fernandes (Coleção Tinhorão / IMS).
Mais
Especial da Rádio Batuta sobre Antônio Maria
Texto de Fernando Krieger e Lyza Brasil sobre o compositor
Acervo de Paulo Mendes Campos no IMS