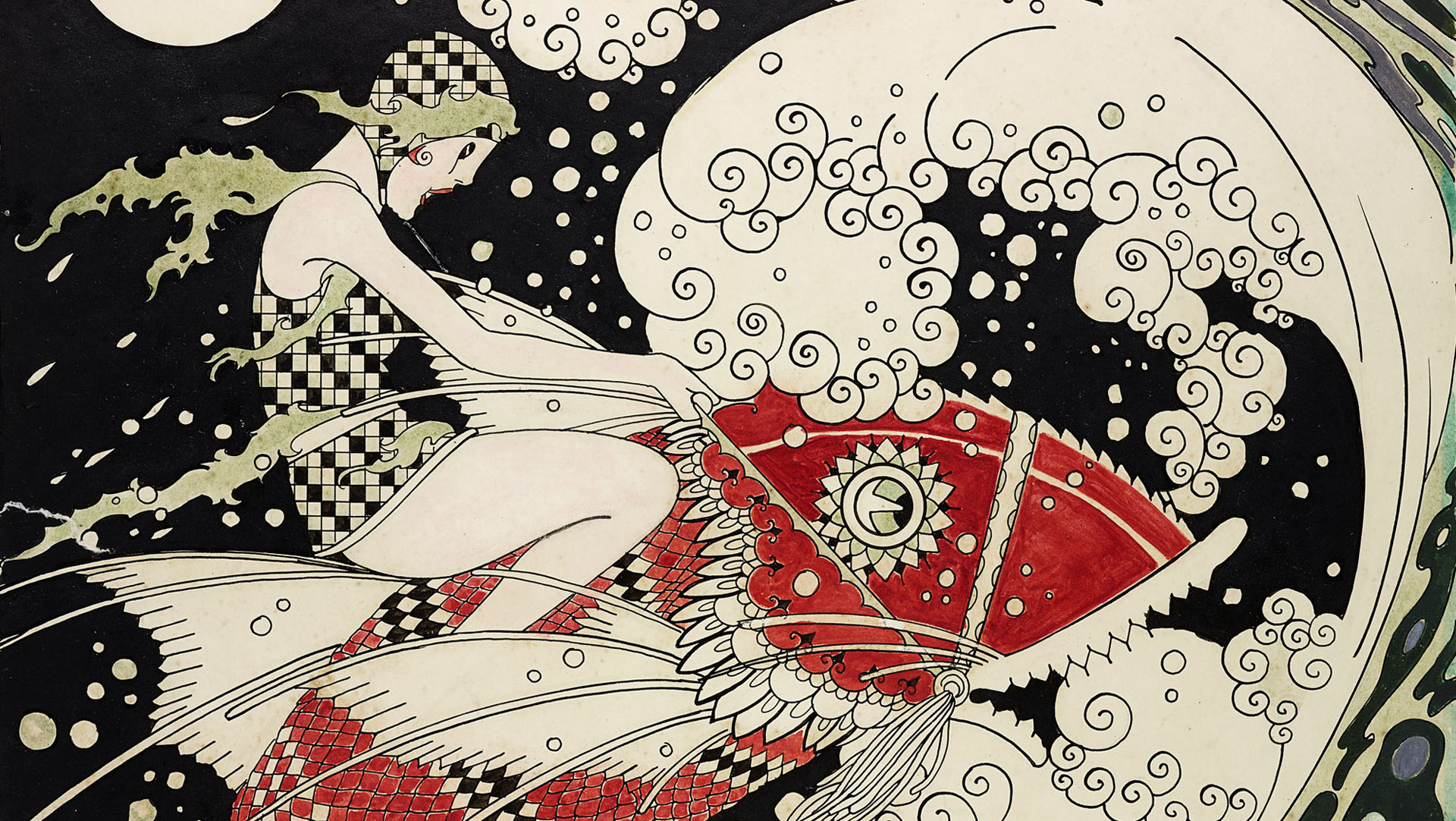A série Primeira Vista traz textos de ficção inéditos, escritos a partir de fotografias selecionadas no acervo do Instituto Moreira Salles. O autor escreve sem ter informação nenhuma sobre a imagem, contando apenas com o estímulo visual. Adriana Armony foi convidada a escrever sobre uma foto de Juan Gutierrez. A imagem é uma das centenas que integram a exposição Conflitos: fotografia e violência política no Brasil 1889-1964.

A poeira se levantou, seca. Minhas narinas e meus olhos ardiam. Fixei-me no ponto onde estava; era preciso ficar totalmente imóvel; assim, se me vissem, me confundiriam com uma estátua, um pedaço de gesso ou de barro. Mas não; a rua estava quieta. A madrugada estendia, cautelosa, seus dedos. Avancei um pé, com cuidado, vigiando o crepitar dos destroços: madeira, pedras, mais o quê? Meu marido sabia; meu marido provavelmente saberia. Afinal, quase todos os anos da vida dele foram dedicados a martelar, serrar, colar com suas mãos e suor os móveis que habitam as casas. Mesas, camas, armários que se tornam mudos membros da família, testemunhas de refeições modorrentas, passos apressados, risos abafados no escuro, entre cochichos. Quando as famílias se mudam, tangidas pela necessidade ou pelo desejo, são arrancados da sua história e às vezes nunca se recuperam. Alguns ficam para trás e tentam conservar o melhor que podem a dignidade em terra estranha.
Não é o meu caso. Não deixei a casa: a casa me deixou. E também a rua, me deixou a rua onde pulei minha primeira amarelinha, em que chorei meu primeiro joelho, com a primeira casquinha que futuquei. Botaram tudo abaixo. Vocês deviam se orgulhar, disseram. Isso aqui vai ficar igualzinho Paris. Imagino Paris como uma torre cheia de raios brilhantes. Como essa nossa rua de pedra poderia virar esse sonho?
Mas estou fazendo perguntas demais. Tenho que me apressar. Ergo a perna esquerda devagar. Isso, garota. Quase nenhum barulho. Gosto de me chamar de garota, embora minha juventude há muito tenha ficado para trás.
Tudo parecia maior quando estava de pé. Aqui era a cozinha; quando esta parede não estava pela metade, eu cabia nela direitinho, andando pra cá e pra lá enquanto preparava o feijão. Antes de ficar doente, meu marido esperava na sala e de lá gritava sua fome. Quantas vezes não corri até o sofá e só fui despertada pelo cheiro da panela queimada?
Depois que ele morreu, aquela panela me magoava. Mas agora, agora daria tudo para encontrar a desgraçada. A pia com o armário estaria nesta altura, mais ou menos. Meto a mão num monte de entulho junto à parede desabada e começo a cavar. Nada é macio aqui. Não é uma terra a ser plantada, como na roça onde nasci; era exatamente o contrário. Um amontoado de pedra, tocos e lascas, lanças de madeira e metal. Enfim consigo afastar parte do entulho e entrever um pedaço da cortininha que eu fiz para servir de porta do armário. Sinto uma mão espremendo meu estômago. Toda a sua alegria florida está morta.
Nem por isso desisto. Enfio o braço no buraco em meio aos destroços. As paredes são ásperas, cheias de ferros. O que eu esperava? Que fossem lisas e caiadas? Que mantivessem o frescor de quando eu apertava meu rosto molhado contra elas, quando sua firmeza me assegurava que, querendo ou não, a vida continuava? Eu insisto e avanço com o braço. Sinto pregos rasgando a minha pele; talvez haja também alguns pedaços de vidro. Mas meu braço é curto demais. Mal consigo tocar o pano da cortina, quanto mais encontrar a panela.
Retiro o braço, tentando me esquivar das pontas dolorosas. Está em carne viva. Talvez no quarto seja mais fácil. Fica ali adiante, pertinho. Tudo é tão perto, quando as paredes se foram.
Apesar de todo o meu cuidado, cada passo é uma denúncia. Preciso achar as coisas, rápido. Antes que cheguem os guardas. Eles costumam rondar as ruas destruídas, os abutres. É de dar ódio, e também um pouco de pena. Sim, teria pena deles se não fossem meus carrascos. No fundo, são uns pobres diabos afivelados em paletós que mal lhes escondem a pele curtida. Com eles, virá um senhor com uma daquelas máquinas diabólicas que, dizem, roubam o passado. Era assim que terminava: erguem o pano preto e aprisionam nossas vidas como a um pássaro.
Ajoelho no meio do pó. No quarto, o entulho é mais rarefeito. Talvez encontre a bailarina que girava e girava com a música. Eu tinha treze anos e uma vez por semana ia com minha mãe buscar os lençóis na casa grande do outro lado da cidade. A menina tinha enjoado da boneca que girava quando dava corda nela. Tinha torcido a pequena manivela por dias e dias, mas a música e a dança não mudavam. Eu achava que a música parecia pingos de brilhante e aceitei a boneca rejeitada.
Por mais que remexa, e meus olhos se anuviem com a poeira, e minhas mãos sangrem, não consigo encontrar nada. Seria tão bom ouvir de novo aquela música. Ou descobrir um pedaço de cadeira que meu marido fez, um encosto, um pé que fosse. Mas não reconheço nada. Talvez os mendigos tenham pilhado tudo. Talvez os próprios guardas tenham levado o que restou.
Reviro os destroços uma última vez. Posso sentir o calor deles. O sol se aproxima e em breve terei de ir embora. Antes que cheguem os homens.
Não, não tinha nada mais ali.

Adriana Armony é escritora e professora. Doutora em Letras pela UFRJ, é autora de A fome de Nelson (2005), Judite no país do futuro (2008) e Estranhos no aquário (2012), premiado com a bolsa de criação literária da Petrobras. Com Tatiana Salem Levy, organizou a antologia Primos: histórias da herança árabe e judaica (2010). Em 2017, lançou o romance A feira.