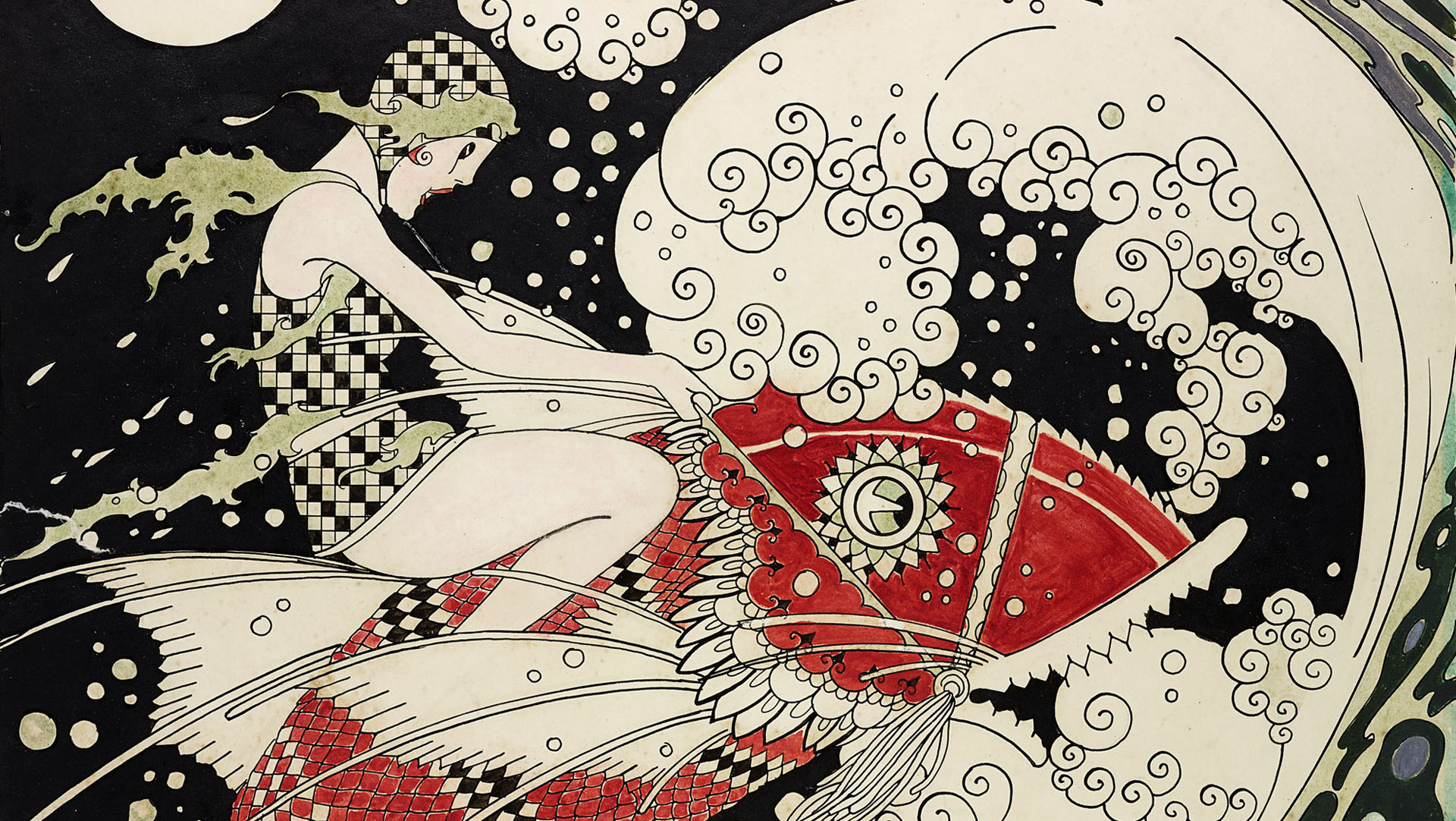A série Primeira Vista traz textos de ficção inéditos, escritos a partir de fotografias selecionadas no acervo do Instituto Moreira Salles. O autor escreve sem ter informação nenhuma sobre a imagem, contando apenas com o estímulo visual. Em janeiro de 2019, a solidão estampada numa das imagens da série “Nomes”, feita pela fotógrafa Lily Sverner (1934-2016) em dois asilos, inspirou o conto “O silêncio”, de Arthur Dapieve. Os 473 retratos em preto e branco de idosos, realizados entre 1989 e 1991, integram o acervo do IMS desde 2005.

Parei de falar tem uns três, talvez quatro anos. Nada me impede de falar, a não ser minha vontade. Ou minha falta de vontade. Não tenho nada de ruim na cabeça, nem nada de ruim na garganta. Simplesmente parei de falar porque todo mundo com quem eu gostaria de falar já saiu daqui. Como eu não explico, o pessoal da casa põe o silêncio na conta de sintoma daquela doença de nome complicado, que, quando ainda falava, eu apelidei de “o Alemão”. No começo, foi um pouco difícil não deixar escapar algum comentário bobo, desses que a gente faz todo dia, toda hora, comentário tão bobo que não se distingue muito do próprio silêncio, tamanha a inutilidade. Com o tempo, quando notava que já tinha aberto a boca e ia falar, simulava um acesso de tosse e me mantinha calada. Uma vez, até mordi a língua de propósito, só para não xingar que o arroz estava uma boa de uma bosta de tão empapado. Ali, foi como se eu tivesse feito um pacto de sangue com o meu silêncio. Enfim, já se passaram esses três, quatro anos, mais nenhum pio de minha parte, e agora ficou fácil, até natural não abrir a boca, e me pergunto se não acabei mesmo ficando muda por falta de uso da fala. Mas isso não me preocupa, nem pago para ver, falando sozinha. Até porque a gente nunca está sozinha de verdade aqui, tem sempre algum jaleco manchado por perto, mesmo de noite.
A falta de vontade de falar acabou se tornando, também, uma falta de vontade de prestar atenção na conversa dos outros. Se eu não quero falar com ninguém é porque ninguém fala nada que valha um comentário, não é? Pode ter um bando de gente em volta, fazendo barulho, pode ser festinha de Natal ou de Ano Bom, pode ser festinha de aniversário, mas eu parei de prestar atenção no que se diz. Fico olhando para onde ninguém vê nada, pensando à beça, mas em silêncio. O pessoal daqui também põe esse comportamento na conta do Alemão. Quando eu ainda prestava atenção no que as pessoas diziam, ouvi que elas já estavam preocupadas com os próximos estágios da doença que não tenho. Não conseguir comer sozinha, não conseguir me vestir sozinha, não conseguir tomar banho sozinha, não conseguir limpar a bunda sozinha. Eu ri por dentro, porque só eu sei que esse dia nunca vai chegar. Vou continuar bem arrumada e limpinha, mas silenciosa, à espera do resto que é silêncio. É verdade que não tenho tido muita vontade de comer nos últimos meses, mas não é porque eu não consiga comer sozinha. É só mais uma falta de vontade mesmo. Seja como for, é mais uma coisa que vai para a conta do Alemão. Conta grande... Rico ele, né?
Quando cheguei aqui, faz nove anos, três meses e dois dias, e isso eu sei com toda certeza, eu era conhecida como boa de garfo. Era até meio gordota. Minha filha trazia sempre alguma coisa de que eu gostava. Ora pro nobis refogada, feijão tropeiro, até costelinha de porco. É verdade que a antiga cozinheira, dona Thalita, também já não está mais aqui. Se eu era boa de garfo, ela era boa de forno e fogão. Fazia um arroz soltinho, saboroso, e um feijão bem temperado, mesmo sem pedaços de carne. Eu devorava junto com angu. Nunca tive muito dente para carne mesmo. E peixe bom não é comum aqui neste alto de serra. Dois anos depois de chegar, mais ou menos um ano depois que minha filha sumiu, eu parei de ser boa de garfo. Não porque tenha perdido o apetite, nada disso, dona Thalita inclusive continuava no comando da cozinha. É porque a direção recolheu todos os garfos após o Onofre espetar o dele no pescoço do Valdir. Mais arranhou do que sangrou, nada sério, mas os dois nunca mais se falaram, e a gente passou a comer só com as colheres. Eu fiquei sendo boa de colher. Mas como eu disse – disse? –, nos últimos meses eu fui perdendo o apetite. Não é só culpa da comida, que piorou, é culpa minha também. Devo estar me desabituando de usar a boca para mastigar. Uma espécie de silêncio cúmplice do estômago. A estrupícia da cozinheira novinha relata que deixei comida no prato, a doutora novinha fica preocupada e me examina, mas vê que estou bem. Ainda não é o Alemão, suspira, aliviada.
Minha filha parou de me visitar, mas sei que ela está viva, que está bem e que não me abandonou. Não exatamente. Ninguém nesta casa, por mais caridoso que fosse, ia deixar uma velha muda morando e comendo – pouco, eu já disse? – assim de graça. Ou seja, Cristiana ainda paga as mensalidades. Não tem mês em que eu não pense nela e no meu neto, que está com 10 aninhos, idade que, eu sei, ô se sei, dá um trabalho danado para as mães e as professoras. Não penso sempre neles, não, para não doer demais da conta. É a vida, cada um tem a sua, e só uma, não os culpo, mas que dá uma dorzinha, dá. Meus colegas normalmente também não são lá muito populares entre os seus, não. Os filhos vêm no começo, vão pegando confiança na casa, relaxam e depois vão cuidar dos próprios problemas. Assim como vida, cada um tem os seus. Às vezes, na verdade, e que fique entre nós, eu acho que “vida” é só um nome bonito pelo qual a gente chama “problemas”. Existe vida sem problema? Existe problema sem vida? Não, né?
Você, pessoa inteligente, que frequenta biblioteca, museu e instituto cultural, notou que trato o resto do pessoal aqui por “colega”, não “amigo”. Prezo o bom uso do português. Uma coisa é bem diversa da outra, correto? Mas como eu já te disse – tenho certeza disso – é que todos os meus amigos já saíram daqui e só sobraram os colegas, com quem não tenho vontade de falar. Não desgosto deles, não, só não tenho nenhuma vontade de trocar banalidades sobre a vida que tivemos ou sobre a vida que nos resta. A falta de amigos me emudeceu. Ninguém entendeu nada. Ficaram achando que já é o Alemão se manifestando. Uma enfermeira, das mais novinhas, disse que era uma triste ironia justo eu, professora aposentada de História, ter perdido a fala e a memória. Não tive ânimo de explicar que não era nada disso, que eu poderia perfeitamente falar, caso quisesse, e que eu me lembro de tudo, tudinho. Pode me perguntar o ano da queda de Constantinopla ou o dia do suicídio de Getúlio. Eu sei, só não vou é responder. Acho até que, se abrisse a boca para falar, depois de tanto tempo, as pessoas iam tomar um susto. Ia ser como aqueles falsos defuntos, que têm catalepsia severa, acordam, sentam no caixão e declaram ter fome. Correm o risco de matar de susto as carpideiras...
Bem, eu acho que a gente já pegou alguma intimidade e que posso contar um segredo sem você achar que estou louca ou com o Alemão. No meu dormitório, tem um guarda-roupas mágico. Ele tem gavetas, portas e conserva os pertences de quem já saiu daqui. Para serem reaproveitados pelos que – como eu – vão ficando. Só que ninguém pega nada. As roupas vão se acumulando e, qualquer dia, vão ter de doar, queimar ou comprar outro guarda-roupas. Aposto que vão queimar e nos dizer que doaram. Para que gastar dinheiro inútil, não é mesmo? Mas para que, também, chocar os que ainda vivem aqui? Não é um mau lugar, acho que já ficou claro, só não tenho mais amigos aqui. Quer dizer... Aí é que entra a mágica. Uma das portas do guarda-roupas tem um espelho do lado de dentro, como em quase qualquer outro guarda-roupas. Houve uma tarde de chuva em que eu estava sozinha no dormitório. Todos os meus colegas ou viam TV ou estavam entretidos no carteado. Abri a porta do guarda-roupas para sentir o perfume deixado por meus amigos. Sabe aquele perfume suave de gente velha, não sabe? Alfazema, gerânio? Eu aspirei todas aqueles perfumes misturados, bem fundo, de olhos fechados, e quando os abri, vi no espelho que meus amigos continuavam todos ali. O espelho os revelou para mim. Deus, que emoção... Eles nunca tinham ido embora! Dona Gabriela, seu Antoni, o catalão bonitão... Quanta saudade, meu Deus do céu! E mais o seu Benjamin, a dona Elisabeth, o seu Júlio, o seu Rogério... Ah, o seu Rogério! A dona June! O seu Luiz Antônio! Estavam todos tão calados quanto eu, ocupando os bancos ao longo das janelas. Não pense que o Alemão afinal me pegou, não, por favor. Não foi só naquela tarde. Sempre que chove, e o dormitório está deserto, eu abro a porta do espelho. Eles estão lá, silenciosos, me olhando, e eu puxo uma cadeira para olhar aonde ninguém vê nada. A gente era tão amigo que nem precisa falar mais. Basta se ver, feliz. Mesmo que seja inverno, e a manhã seguinte traga a geada, o meu coração se aquece por saber que, em breve, eu também vou para lá, onde não há mais saudade.

Arthur Dapieve é jornalista e professor universitário. Entre seus 12 livros publicados, estão os romances De cada amor tu herdarás só o cinismo (2004) e Black music (2008). A coletânea de contos Maracanazo e outras histórias (2015) foi um dos ganhadores do Prêmio Oceanos, no quarto lugar.