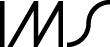Que país é este? A câmera de Jorge Bodanzky durante a ditadura brasileira (1964-1985)
Museu Nacional da República (Brasília, DF)
Audiodescrição
Estação 1
Uma câmera para revelar o Brasil escondido pela ditadura
O cinema de Jorge Bodanzky sempre revelou e interrogou um Brasil escondido pelas suas imagens oficiais. A condição libertária dos seus filmes redefine igualmente formas de produzir, dirigir e editar, confrontando os limites do cinema na apresentação e representação das vidas que nele surgem, subvertendo convenções e linguagens de gêneros, como o documentário ou a ficção. Todos os seus filmes evidenciam a consciência de que uma vida pode ser um filme, mas um filme nunca é uma vida. A liberdade de filmar é condição inalienável da defesa da liberdade de viver, e por isso a câmera de Bodanzky registra, expõe, surpreende e convida à reflexão crítica, reconfigurando todas as certezas que possam existir sobre o cinema e a vida com as quais os espectadores cheguem a um dos seus filmes.
Um filme de Bodanzky é uma forma de ação do cineasta no tempo e no território que escolheu para filmar. A sua câmera não é neutra, ela cria situações sobre as situações que registra, inventa, edita e apresenta. O seu cinema não é uma imitação da vida, nem tampouco tem a pretensão de nos apresentar a vida como ela é numa eventual objetividade ilusória. A câmera de Bodanzky é atuante e, por isso, cada filme afirma uma verdade própria independente, tão subjetiva quanto determinada nas suas escolhas, além da tentação ideológica da missão do que se convencionou chamar “cinema verdade”, do qual manifesta no entanto plena consciência.
O Brasil imposto pela ditadura militar é corajosamente enfrentado, exposto, denunciado e combatido pelo cinema de Jorge Bodanzky. Que país é este? é uma exposição que reúne fragmentos de filmes, fotografias e documentos que articulam um capítulo impressionante de resistência e subversão das normas impostas pela ditadura nos seus modos de representar o país. Apresentar esta exposição em 2024, 60 anos depois do golpe militar de 1964, possibilita repensar a história a partir dos cruzamentos de memórias, imagens e documentos resultantes de uma obra cinematográfica muito relevante para a compreensão desse período histórico. O Instituto Moreira Salles, cujos acervos preservam fundos valiosos para uma reinterpretação da história do Brasil, assinala também esses 60 anos através desta exposição. Ela é também o primeiro momento de divulgação do acervo fotográfico, documental e fílmico de Jorge Bodanzky, que o IMS guarda e preserva.
Manifestamos a Jorge Bodanzky a nossa imensa gratidão pelo acolhimento caloroso deste projeto, assim como pelo seu acompanhamento cúmplice e entusiasta. Expressamos o nosso enorme reconhecimento a Thyago Nogueira, curador da exposição,
a Horrana de Kássia Santoz, curadora-assistente, Ângelo Manjabosco e Mariana Baumgartner, responsáveis pela pesquisa, assim como a todas as pessoas e equipes do IMS que tornaram possível este projeto. Durante a sua duração, a exposição será acompanhada por uma ampla retrospectiva da obra cinematográfica de Jorge Bodanzky. Endereçamos igualmente os nossos agradecimentos à equipe da área de programação de Cinema no IMS, assim como à Cinemateca Brasileira, por todo o apoio prestado.
Diretoria do IMS
A Luta Continua
Esta exposição reúne pela primeira vez a obra do fotógrafo, repórter e cineasta Jorge Bodanzky (São Paulo, 1942) produzida durante a ditadura militar brasileira (1964-1985). Enquanto o manto autoritário recobria o Brasil, um jovem estudante deixava a recém-criada Universidade de Brasília para registrar com sua câmera os conflitos sociais e a diversidade cultural do país. Driblando a repressão e a censura, Bodanzky consolidou-se como um dos cineastas mais agudos e críticos de sua geração.
Como narrar em imagens a violação de direitos e a destruição ambiental que o ufanismo desenvolvimentista do governo militar tentava manter invisível? Como captar em vivas cores a aliança comunitária dos movimentos sociais e a grandeza da cultura popular que embalava a resistência? Filmes como Iracema: uma transa amazônica (1974), censurado até 1981, Gitirana (1975) ou Jari (1979) inventavam uma nova maneira de fazer cinema, com roteiros enxutos, atuação improvisada, equipamento portátil e gravação de som direto. Não raro, utilizavam a ficção e a encenação para realçar as contradições reais da sociedade. O despojamento da produção era a estratégia necessária para construir a contraimagem do discurso oficial.
Enquanto as lutas urbanas eram bem documentadas, Bodanzky e parceiros como Wolf Gauer, Hermano Penna, Orlando Senna e Helena Salem embrenhavam-se pelo país para amplificar vozes e imagens até então pouco conhecidas. Trabalhando na Amazônia, no Nordeste ou no Sul do Brasil, sua produção enfocava as injustiças sociais e os paradoxos do modelo econômico autoritário, mas também apontava o papel da ecologia e da educação na transformação do Brasil.
Bodanzky fez cinema até mesmo quando fotografava detrás da janela de um carro, avião ou helicóptero, enquadrando o mundo em movimento. Nesses 21 anos de carreira, trabalhou como fotógrafo para revistas e jornais, dirigiu a fotografia de clássicos do cinema independente, gravou reportagens pela América Latina e aventurou-se nos filmes super-8.
No centro da sala, quatro projeções apresentam cenas de seus filmes organizadas em eixos temáticos, como a exploração do trabalho, as diferentes formas de religiosidade, as lutas de resistência e as distintas visões de progresso. Nas paredes, fotografias e projeções de super-8 compõem o caderno de campo do cineasta. Os monitores de tevê exibem entrevistas e filmes para canais alemães, enquanto a sala recuada resgata as colaborações como diretor de fotografia.
Boa parte desta produção ainda é pouco conhecida, seja em razão da censura, da falta de financiamento ou do reduzido circuito de exibição dedicado ao cinema ativista. Vistas em conjunto, estas obras revelam o papel crucial das imagens na luta por justiça social e na compreensão do país, erguido sobre bases violentas e autoritárias. Revê-las é a chance de testemunhar a história sendo escrita a quente, mas também dar-se conta de que boa parte dos conflitos e paradoxos daquele período continuam vivos no Brasil hoje.
Thyago Nogueira, curador e coordenador da área de Fotografia Contemporânea do IMS
Iracema: uma transa amazônica (1974), filme mais conhecido de Jorge Bodanzky, une ficção e documentário para narrar a história de amor e desamor entre uma jovem mulher indígena, forçada à prostituição, e um caminhoneiro gaúcho, que vê na construção da rodovia Transamazônica uma chance fácil de enriquecimento ilícito. A prostituição de menores, a escravização de trabalhadores rurais e a violência contra povos indígenas são alguns dos temas denunciados no filme pela interação original entre atores profissionais, amadores e transeuntes – procedimento que até hoje provoca desconforto e comoção. Para escapar à atenção dos militares, a equipe de filmagem estacionava sua Kombi, improvisava a cena e fugia. Não havia take repetido. O filme afrontava o Brasil oficial e permaneceu censurado até 1981, a despeito do sucesso internacional.
As consequências dos projetos faraônicos levados a cabo pelo governo militar e pela iniciativa privada também foram reveladas no longa de ficção Gitirana (1975, censurado) e no documentário Jari (1979). Gitirana narra as desventuras de um homem-mulher operário em busca de um reino encantado, tendo como pano de fundo a construção da enorme barragem de Sobradinho (BA), que levou à expulsão de milhares de moradores da região. Jari expunha a destruição ambiental e as aviltantes condições de trabalho nas fábricas do empresário americano Daniel Ludwig, implantadas na Amazônia.
Em Iracema (1974), Gitirana (1975) e Os Mucker (1978), Bodanzky trabalhou com a fábula e a encenação para abordar a realidade de forma indireta e despistar censores. Suas imagens só foram possíveis com financiamento alemão, porque não interessavam ao governo brasileiro. Jari (1979), Terceiro milênio (1980) e Igreja dos oprimidos (1985), feitos conforme caminhávamos para a redemocratização, cutucavam a ferida sem meias palavras. A maneira como personagens reais e ficcionais exaltam a violência e a própria ignorância ecoa tristes episódios do Brasil recente.
“Pedra não para o caminho, fogo não queima o luar”, canta um casal de trabalhadores rurais em Igreja dos oprimidos (1985), feito no ano da redemocratização. O filme denuncia a violência no campo e a atuação da Igreja Católica progressista na luta por reforma agrária em Conceição do Araguaia (PA). No cinema de Bodanzky, a música popular ocupa o papel de coro, que comenta questões sociais e morais. A ditadura ruía nas cidades, mas o interior do país seguia lutando por terras e direitos através de alianças e associações comunitárias.
Bodanzky enfocou outras formas de resistência social durante a ditadura. Na ficção Os Mucker (1978), baseado em episódio histórico verídico, uma comunidade alemã liderada pelo casal messiânico Jacobina e José Maurer resiste às investidas da sociedade local, como uma Canudos gaúcha. O longa Gitirana (1975), construído como um cordel, atualiza o sentido do cangaço na resistência nordestina e feminina durante a construção da barragem de Sobradinho (BA), no governo do general Emílio Médici.
A luta contra o machismo e o puritanismo é encarnada por mulheres, como a Jacobina de Os Mucker (acusada de “dormir com qualquer um”); a Marieta Puribão de Gitirana (que se deita com o Diabo para exterminar o pecado); e pela gilete que sela a aliança de Iracema com Tereza, em Iracema.
Os trabalhadores rurais, o movimento operário e o feminismo batalham por justiça e emancipação mesmo quando os novos valores sociais e morais afrontam a sociedade, que reage com a pá da repressão. A violência indiscriminada do Estado e do poder privado é uma estratégia de dominação, que promove o conflito até mesmo entre grupos oprimidos.
À sua maneira, Bodanzky deu imagens a uma luta coletiva, contribuindo para frear o projeto de extermínio que o ufanismo desenvolvimentista tentava manter invisível. O fim do aparato militar repressivo é substituído pela violência das milícias particulares, determinadas a evitar que a reforma agrária e a distribuição de renda avancem no país, nos lembra dom Alano Pena em Igreja dos oprimidos (1985). Hoje, a história continua.
A religião muitas vezes acolhe e redime, oferecendo amparo e conforto contra as garras da repressão. No média-metragem Caminhos de Valderez (1971), estreia de Bodanzky na direção, uma mulher de classe média é atormentada por demônios e pela ditadura enquanto busca refúgio no tarô e no movimento religioso do Vale do Amanhecer, fundado pela médium sergipana Tia Neiva em Brasília. Em Gitirana (1975), um menino se transforma em mulher depois da morte da avó, com a bênção do padrinho. Na pele de Ciça, Maria Bonita ou Marieta Puribão, o ele/ela parte em busca do reino perdido de Miramar, para escapar ao destino operário. “Livrai-nos do pecado, da peste, da fome, da seca, da inundação e do dinheiro”, diz, encarnando uma beata revolucionária.
À sombra de uma árvore, o padre Ricardo Rezende celebra a Igreja dos oprimidos (1985), interpretando a Bíblia como um manual de guerrilha. Rezende pede paz na Nicarágua, “país que vive sob a ameaça de invasão dos Estados Unidos”, e na África do Sul, “onde os negros têm sido pisoteados por uma minoria branca”. Um trabalhador rural homenageia “os nossos índios, os verdadeiros donos desta terra, que tombaram sob o jugo dos opressores e capitalistas”. Em vez de apenas narrar suas histórias, o microfone amplifica a voz dos trabalhadores, acusados de subversão e terrorismo. O filme registra o momento histórico em que a Igreja Católica se distanciou do apoio inicial à ditadura e engrossou as fileiras da resistência, graças à Teologia da Libertação. Em Terceiro milênio (1980), contudo, as raras imagens do irmão José da Cruz revelam a evangelização do povo Ticuna através de um catolicismo popular que tentou apagar a espiritualidade tradicional e transformar povos originários em força de trabalho. Em Iracema (1974), a devoção popular do Círio de Nazaré, em Belém, é também um rito de iniciação da jovem indígena na decadência da sociedade capitalista. A espiritualidade e a religião são bases indissociáveis das alianças comunitárias, razão pela qual seguem determinantes para navegar o Brasil contemporâneo.
A ditadura vendia milagre econômico e entregava destruição ambiental, violação de direitos e corrupção. Nos anos mais violentos do regime, Bodanzky usou a ficção, a atuação histriônica e analogias históricas para abordar conflitos candentes. “Natureza é mãe coisa nenhuma. Natureza é meu caminhão, rapaz, natureza é a estrada”, brada Tião Brasil Grande em Iracema (1974). Sua arrogância preconceituosa continua a ecoar pelo país.
Cada quilômetro da Transamazônica propagandeada pelo governo abria também um rastro de violência e destruição. Bodanzky registrou o país em disputa e enviou ao exterior algumas das primeiras cenas coloridas da Amazônia em chamas.
Em 1978, a convite de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), visitou o Projeto Jari, empreendimento do americano Daniel Ludwig, que desmatara um quinhão da floresta amazônica para produzir celulose, arroz e caulim. O documentário Jari (1979) inova ao contrapor o discurso oficinal da fábrica à voz dos trabalhadores, expondo a associação deletéria entre a iniciativa privada e o governo do general Ernesto Geisel.
No cinema de Bodanzky, a câmera filma e dirige a ação, enquanto o som costura o enredo, alternando ponto e contraponto. “O índio é um verdadeiro ecólogo. Um homem que sente profundamente a complexidade, a harmonia, a integração daquela floresta”, declara o ambientalista José Antonio Lutzenberger. O cinema de Bodanzky era a contranarrativa do discurso oficial, que cooptava até mesmo jornais e revistas.
O convite para filmar a viagem da CPI fora feito pelo senador amazonense Evandro Carreira, que ganhou seu próprio documentário. Terceiro milênio (1980) acompanha a viagem de Carreira pelo rio Solimões durante sua campanha pelo governo do estado. “O que é o progresso?”, provoca. Preconceituoso e ao mesmo tempo visionário, Carreira sintetiza paradoxos do período e antecipa dilemas atuais: “Ou tu me inventarias, ou tu me investigas, ou tu me decifras, homem do terceiro milênio, ou eu te devorarei com a devastação, com deserto e com o inferno que será a futura Amazônia”, conclui.
A experiência de Jorge Bodanzky como câmera em filmes de outros diretores é fundamental para entender seus próprio trabalhos na direção. Bodanzky estudara direção de fotografia na Escola de Design de Ulm, sob a batuta do cineasta Alexander Kluge. Recém-chegado da Alemanha, estreou como câmera no filme O profeta da fome (1968), de Maurice Capovilla. A fábula onírica acompanha uma trupe circense decadente, determinada a garantir seu público. Distante do realismo do Cinema Novo, o filme abusa da lente grande-angular para abraçar o espectador com a cena ou oferecer o ponto de vista do protagonista. Nesse caso, o faquir Alikan, interpretado por José Mojica Marins — mais famoso como o Zé do Caixão —, que descobre no jejum o sucesso almejado. O filme parodia a aventura de viver num país precário, em que todos lutam por trabalho, dignidade e comida.
Em Hitler III° Mundo (1968), longa do escritor José Agrippino de Paula, Bodanzky incorpora a ousadia libertária do autor de Panamérica (1967) para filmar a história de ascensão de um líder nazista no Terceiro Mundo. Rodado clandestinamente em São Paulo, o filme encadeia cenas perturbadoras, como a do samurai assassino vivido por Jô Soares, com efeitos de cinema arrojados, como o giro da câmera sobre si mesma. Para filmar, Bodanzky juntava pontas de chassi dos outros filmes que fazia, descolava uma câmera emprestada e ligava para o Agrippino. Ele então criava a cena com os atores disponíveis, e a equipe saía para rodar no improviso. Filmado simultaneamente à instauração do AI-5, o enredo sobre a ascensão do totalitarismo continua a ser tristemente visionário.
O longa Compasso de espera (1969), dirigido pelo dramaturgo Antunes Filho, foi pioneiro em abordar o conflito racial no cinema através da história de um jovem poeta negro (Zózimo Bulbul) e sua namorada branca. A violência do racismo é expressa pelo contraste dramático entre o preto e o branco da película, que expõe o conceito rigoroso desenvolvido pelo artista português Fernando Lemos e conduzido por Bodanzky com apoio das artistas Maria Bonomi e Amelia Toledo.
Entre 1968 e 1973, Bodanzky fez câmera de inúmeros filmes, engrossando a produção alternativa. A experiência e a agilidade na movimentação da câmera permitiu ao cineasta usá-la para direcionar atores, planos, cortes e cenas em seus próprios filmes.
1942-1962
Jorge Bodanzky nasce em São Paulo (SP), filho de austríacos que vieram para o Brasil em 1937, às vésperas da anexação ao Reich alemão. Frequenta o Instituto Mackenzie, o Colégio Bandeirantes e o Colégio Piratininga, em São Paulo. Passa meses em internato de orientação anarquista em Rekawinkel, Áustria. De volta a São Paulo, cria com amigos a companhia de teatro de fantoches Sambalelê.
Em 1960, o presidente Juscelino Kubitschek inaugura a nova capital, Brasília. Em 1961, Jânio Quadros é eleito presidente e renuncia ao cargo em poucos meses. O vice-presidente João Goulart assume a presidência e promete reformas sociais de base.
1963-1964
Ingressa no curso de arquitetura da recém-inaugurada Universidade de Brasília, estimulado pelo projeto pedagógico inovador. Tem aulas com os artistas Amelia Toledo, Athos Bulcão e Luis Humberto, entre outros.
Em 1964, um golpe civil-militar depõe o presidente João Goulart, com apoio dos Estados Unidos. O marechal Humberto Castelo Branco assume a presidência do Brasil. O câmpus da UnB é invadido por militares, que prendem professores e alunos, proibindo manifestações estudantis. A ditadura suspende direitos políticos e começa a perseguir opositores.
1965
Participa das filmagens de Menino de engenho (1965), de Walter Lima Jr., na Paraíba.
Os militares avançam sobre as universidades. Bodanzky deixa a UnB após a saída de mais de 200 professores e assistentes, que assinam carta de demissão coletiva. Expõe fotografia na 8a Bienal de São Paulo. Entre 1965 e 1969, trabalha como fotógrafo na revista Manchete, nos jornais O Estado de S. Paulo e Jornal da Tarde, na revista Realidade e na agência Maitiry, a convite do artista português Fernando Lemos.
1966-1967
Em 1966, viaja a Colônia, na Alemanha, para estudar fotografia, mas desiste do curso técnico. O cineasta Alexander Kluge o convida a cursar cinema na recém-criada Escola de Design de Ulm, Alemanha. Em 1967, viaja a Berlim com um grupo do movimento estudantil para gravar o documentário Distúrbio, sobre o assassinato do estudante Benno Ohnesorg durante protesto contra a visita do xá do Irã. A pressão sobre a atuação política dos estudantes da Escola de Design de Ulm provoca êxodo de alunos. Bodanzky volta ao Brasil.
Em 1967, o marechal Artur da Costa e Silva assume a presidência do Brasil. A Fundação Nacional do Índio (Funai) substitui o Serviço de Proteção ao Índio (SNI), envolvido em denúncias de corrupção.
1968
O estudante Edson Luís de Lima Souto é assassinado por policiais militares no Rio de Janeiro, dando início a protestos que culminam na Passeata dos Cem Mil.
Bodanzky expõe fotografias na Galeria Astreia, em São Paulo, ao lado do artista Fernando Lemos e outros. Viaja pela primeira vez à Amazônia para reportagem da revista Realidade sobre a circulação de dinheiro falso em Paragominas (PA). A movimentação de caminhoneiros e prostitutas em um posto de estrada será o embrião de seu primeiro longa-metragem, Iracema: uma transa amazônica (1974). A Amazônia se tornará epicentro de sua obra.
Faz direção de fotografia em Hitler IIIº mundo (1968) e Rito do amor selvagem (1969) de José Agrippino de Paula; O profeta da fome (1969), de Maurice Capovilla; e Compasso de espera (1969), de Antunes Filho; entre outros.
O presidente Costa e Silva oficializa o autoritarismo com o Ato Institucional no 5, inaugurando os Anos de Chumbo.
O Congresso Nacional é fechado, direitos políticos são cassados, a censura e a tortura transformam-se em política de Estado.
1969-1970
Uma junta militar assume a presidência do Brasil e promulga nova Constituição, endurecendo o regime. O Congresso Nacional elege o general Emílio Garrastazu Médici para a presidência. Médici lança o Programa de Integração Nacional (1970) para ocupar a Amazônia com rodovias, extração de minérios e colonos de todo o país. O plano ignora populações indígenas. Tem início a construção da rodovia Transamazônica (BR-230), nunca concluída. Carlos Marighella, líder da Aliança Libertadora Nacional, é morto por agentes do Estado. A seleção brasileira de futebol vence a Copa do Mundo. São criados Destacamentos de Operação de Informação (DOI) para controlar atividades e perseguir opositores. Os DOI-CODI se tornam centros de tortura praticada por agentes do Estado.
Bodanzky trabalha para a revista Realidade e dá aulas de fotografia e câmera na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP).
1971
Dirige seu primeiro filme, Caminhos de Valderez (1971), em parceria com Hermano Penna. A protagonista Valderez de Almeida estreia no cinema ao lado de atores não profissionais. O filme fica desaparecido por anos. A fotografia, antes atividade principal, passa a acompanhar o cinema.
Com o repórter Karl Brugger, desenvolve reportagens para tevês alemãs sobre a censura nas artes, a detenção do grupo de teatro The Living Theatre, em Minas Gerais, a religiosidade em Brasília, as associações comunitárias no governo de Salvador Allende, no Chile, e entrevista o general Hugo Banzer Suárez um mês depois que assume o governo da Bolívia em um golpe de Estado. Cria a produtora Stopfilm, com o parceiro
Wolf Gauer, em Munique.
Carlos Lamarca, líder da resistência armada contra a ditadura, é assassinado na Bahia.
1972-1974
Em 1972, viaja a Manaus com Brugger e o misterioso Tatunca Nara em busca da cidade perdida de Akakor, lenda desmentida anos depois. Com Wolf Gauer, filma documentários para o Instituto do Filme e da Imagem para a Ciência e o Ensino na Alemanha. Com José Medeiros, divide a câmera em O fabuloso Fittipaldi (1973), de Héctor Babenco e Roberto Farias. Investe na produção de super-8 para exercitar a linguagem cinematográfica. Dá aulas de cinema na Fundação Armando Alvares Penteado (Faap), em São Paulo, entre 1972 e 1976. Obtém financiamento da tevê alemã ZDF para seu primeiro longa-metragem, Iracema: uma transa amazônica (1974), filmado ao longo da rodovia Transamazônica. Em um programa de auditório em Belém, conhece Edna de Cássia, que protagonizará o filme sem experiência prévia em atuação.
Em 1973, Salvador Allende, presidente do Chile, é deposto por golpe militar liderado por Augusto Pinochet, chefe das Forças Armadas. No Brasil, Médici promulga o Estatuto do Índio, para afastar acusações de genocídio das populações originárias. Em 1974, o general Ernesto Geisel assume a presidência do Brasil. Entre 1972 e 1974, o Exército descobre e extermina a base de treinamento do Partido Comunista do Brasil no Araguaia, e oculta a chacina.
1975
O filme Iracema: uma transa amazônica (1974), codirigido por Orlando Senna, estreia na tevê alemã ZDF e atrai atenção internacional, mas tem a exibição censurada no Brasil. Uma agência governamental alemã compra 100 cópias do filme para distribuir em escolas.
O sucesso abre caminho para o longa Gitirana, codirigido por Orlando Senna e baseado na peça Teatro de cordel (1970). Gitirana narra as consequências da construção da represa de Sobradinho (BA), obra do governo Médici que deslocou 70 mil pessoas e criou o maior lago artificial do país. O filme é exibido na tevê alemã, mas proibido no circuito comercial brasileiro, circulando em cineclubes fechados.
Bodanzky recebe em casa o jornalista Vladimir Herzog para revelar fotos de seu pai no laboratório improvisado. Herzog é preso, torturado e assassinado dias depois no DOI-CODI de São Paulo. Sua morte mobiliza o primeiro grande protesto da sociedade civil depois do AI-5, na catedral da Sé, em São Paulo.
1976-1978
Iracema e Gitirana são consagrados no Festival de Cannes, França. Bodanzky cria o estúdio Stop Som, em São Paulo, com Wolf Gauer e Raquel Gerber. Filma o longa de ficção Os Mucker (1978), baseado na Revolta dos Muckers (1873-1874), episódio verídico de conflito armado entre militares e uma comunidade religiosa de Sapiranga (RS).
Em 1978, é criado o Movimento Negro Unificado (MNU). O presidente Ernesto Geisel extingue o Ato Institucional nº 5, sinalizando abertura política parcial.
1979
Viaja ao Pará com a CPI que investigará o polêmico Projeto Jari, do empresário Daniel Ludwig. O documentário Jari (1979), codirigido por Wolf Gauer, registra a voz dos trabalhadores e faz críticas diretas ao projeto. O filme circula em dezenas de associações e cineclubes. Os Mucker (1978) recebe o prêmio de Melhor Direção no Festival de Cinema de Gramado. Muda-se para o Rio de Janeiro, onde reside até 2005, quando
volta a São Paulo.
O general João Figueiredo assume a presidência do Brasil, que contava cerca de 800 presos políticos e 7 mil exilados. Diante de pressão popular, Figueiredo assina a Lei da Anistia, que perdoa crimes políticos. A lei é criticada por anistiar a tortura e repressão do Estado. O Congresso Nacional põe fim ao bipartidarismo.
1980
Entre 1980 e 1984, Bodanzky codirige reportagens com Karl Brugger para o canal alemão ARD.
Iracema (1974) obtém autorização para ser exibido no Festival de Brasília e recebe os Candangos de Melhor Filme, Atriz, Atriz Coadjuvante (Conceição Senna) e Montagem, depois de seis anos de censura. Lança Terceiro milênio, codirigido por Wolf Gauer. O river movie segue a campanha eleitoral do senador Evandro Carreira (AM) pelo rio Solimões, em território do povo Ticuna.
1981-1983
Iracema (1974) é liberado para exibição pela Polícia Federal, em 1981. Dirige Amazônia, o último Eldorado (1982), para o Globo Repórter, com o jornalista Carlos Alberto Luppi. Terceiro milênio (1980) é exibido em mostra paralela do Festival de Cannes, onde recebe o prêmio Jeune Cinéma. Em 1983, a Cinemateca de Paris organiza retrospectiva do cinema de Bodanzky, chancelada pelo cineasta Jean Rouch, um dos criadores do cinema direto.
Em 1982, é realizada a primeira eleição direta para governador desde o início da ditadura militar. No ano seguinte, tem início o movimento pelas Diretas Já, para retomar eleições presidenciais diretas.
1984-1985
Entre 1984 e 2006, trabalha com Gernot Schley para tevês alemãs. Lança o documentário Igreja dos oprimidos (1985, codirigido por Helena Salem) sobre o envolvimento da Igreja Católica na luta agrária do Araguaia (PA).
Tancredo Neves é eleito presidente do Brasil pelo colégio eleitoral, mas falece antes de assumir. A posse do vice-presidente José Sarney põe fim ao regime militar. O cardeal Joseph Ratzinger impõe silêncio obsequioso ao frei Leonardo Boff por divulgar as ideias da Teologia da Libertação.
1986-1987
Lança o filme Ensaiando Brecht (1986). Dá aulas de cinema e vídeo na Universidade Estadual de Campinas. Igreja dos oprimidos recebe o prêmio Margarida de Prata, oferecido pela CNBB. Filma Igor, uma aventura na Antártica (1987) e organiza uma expedição ao pico da Neblina para encontrar o local descrito no conto “O mundo perdido”, de Arthur Conan Doyle. Com Gernot Schley, filma o documentário O sonho de um pedaço de terra próprio (1987), sobre a luta dos sem-terra no Rio Grande do Sul.
1988-1999
A nova Constituição brasileira é promulgada, ampliando direitos dos cidadãos.
Lança o filme Universidade Quadrangular (1988). Dá aulas no Centro de Produção Cultural e Educativa da Universidade de Brasília. Lança A propósito de Tristes trópicos (1990, codirigido por Patrick Menget e Jean-Pierre Beaurenaut), sobre a obra do antropólogo Claude Lévi-Strauss. Em 1991, realiza reportagens como Surfista de trem (Canal Plus), Flor do amanhã, sobre a escola de samba infantil do carnavalesco Joãozinho Trinta, e Caça à baleia branca.
Coordena a série Ecovídeo (1995), composta de 10 programas educativos feitos para crianças da Amazônia, com participação da Universidade Federal do Pará. Lança o portal Amazonlife (1998), enciclopédia online sobre a Amazônia, no ar até 2001.
2000-2012
Primeira viagem do projeto Navegar Amazônia (2000), iniciativa para levar internet a escolas ribeirinhas do Amapá por meio de barco. Lança Brasília, a utopia inacabada (2002), o filme Navegaramazônia: uma viagem com Jorge Mautner (2005) e o especial Era uma vez Iracema (2005). Publica o depoimento biográfico Jorge Bodanzky: o homem com a câmera (2006), escrito por Carlos Alberto Mattos. Lança os filmes No meio do rio, entre as árvores (2009) e Pandemonium (2010). Em 2009, volta ao Alto Solimões para entrevistar os Ticuna, filmados em Terceiro milênio (1980).
Em 2012, a presidente Dilma Rousseff instala a Comissão Nacional da Verdade, para investigar as violações de direitos humanos cometidas pelo Estado brasileiro entre 1946 e 1988. O relatório final da comissão pede revisão da Lei da Anistia.
2013-2017
O acervo de fotos, super-8 e vídeos de Bodanzky passa a ser preservado pelo Instituto Moreira Salles. Lança Família (2014) e Photo Assis, o clique único de Assis Horta (2015), a convite da revista ZUM. Em 2016, apresenta o trabalho da Amazônia na exposição No meio do rio, entre as árvores (MIS-SP). Lança DVD de Iracema com o especial Ainda uma vez Iracema (2016), em que volta a Belém para debater a prostituição.
2018-2024
Dirige a série Transamazônica, uma estrada para o passado (HBO, 2019, codireção de Juliano Maciel) e Ruivaldo, o homem que salvou a Terra (2019), com João Farkas. Lança Utopia/distopia (2020) e Amazônia, a nova Minamata? (2022).
Em 2018, Jair Bolsonaro é eleito presidente do Brasil e nega o golpe militar de 1964, além de relativizar a violência da ditadura militar.
Em 2023, Lula é eleito presidente do Brasil e cria o Ministério dos Povos Indígenas, comandado por Sônia Guajajara. Joenia Wapichana é a primeira indígena a dirigir a Funai.
Fim do conteúdo