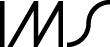Hoje talvez seja difícil imaginar a impossibilidade de se caminhar pelo Brasil com uma câmera e um gravador de som, em movimento, conversar com quem encontrar, gravar sua voz, suas expressões, detalhes e ambiência. Para toda geração de cineastas brasileiros até o final dos anos 1950, essa era uma impossibilidade, até que, no começo dos anos 1960 o conjunto da câmera de 16 mm portátil e o gravador de som síncrono aportaram no país graças a uma iniciativa da Unesco. É nesse momento de virada que se destaca o trabalho do fotógrafo Thomaz Farkas como produtor e realizador de um conjunto de documentários que, até hoje, é um marco em termos de projeto coletivo.
Alguns fatores confluem na produção desses filmes a partir de 1964 e na reunião do grupo de pessoas que veio a se reunir ao redor dessa iniciativa. Uma das partes mais essenciais é a relação com o Instituto de Cinematografia de Santa Fé, na Argentina, capitaneada por Fernando Birri. O encontro do fotógrafo e empresário Farkas com o grupo de argentinos e brasileiros ligados ao Instituto foi fundamental para consolidar a empreitada na direção do cinema documental, com o auxílio das novas ferramentas técnicas disponíveis. Birri, Edgardo Pallero, Maurice Capovilla, Manuel Horacio Giménez, Sérgio Muniz e Vladimir Herzog, traziam não só o know-how como uma relação intrínseca entre a realização cinematográfica e a construção de uma visão crítica e nuançada sobre o processo corrente de modernização do país. A esse grupo, juntam-se os fundamentais baianos Geraldo Sarno e Paulo Gil Soares, trazendo toda a efervescência da cena cultural da Salvador desse período – influenciada, em especial, pelo trabalho da arquiteta Lina Bo Bardi –, culminando na realização do primeiro conjunto de quatro filmes, reunidos num projeto batizado de Brasil verdade, finalizados em 1965 e lançados como um longa único em 1968. Viramundo (Geraldo Sarno, 1964-1965), Memória do cangaço (Paulo Gil Soares, 1964), Nossa escola de samba (Manuel Horacio Giménez, 1965), e Subterrâneos do futebol (Maurice Capovilla, 1965) formam essa primeira leva de médias extremamente influentes, que se tornaram pedras fundamentais do documentário brasileiro e na discussão crítica do Brasil através do cinema.
Migração, religião, futebol, cangaço e samba marcam esse primeiro conjunto produzido por Thomaz Farkas, numa iniciativa até hoje sem paralelos na história do cinema brasileiro: novos cineastas, desejando um novo país, realizando filmes de maneira independente, com total autonomia criativa, com novos equipamentos, realizam um capítulo bastante singular dentro da história do cinema brasileiro.
Até então, o documentário era visto como um cinema menor, de possibilidades poéticas desconsideradas, uma ferramenta de registro e com pouca possibilidade de materialização de um olhar inventivo, crítico, elaborado e dialógico. Na esteira do final dos anos 1950, após os influentes documentários Aruanda (do paraibano Linduarte Noronha, 1959), Arraial do Cabo (Mário Carneiro e Paulo Cezar Saraceni, 1959), Garrincha, alegria do povo (Joaquim Pedro de Andrade, 1962), Maioria absoluta (Leon Hirzsman, 1964), o primeiro conjunto de filmes capitaneados por Farkas estabelece o cinema documentário como uma das pontas de lança de uma cultura audiovisual crítica, pensante, inovadora, em diálogo direto com o núcleo ficcional do grupo do Cinema Novo – em que o trânsito entre a produção documental e ficcional era comum e mutuamente fértil.
Tal reunião de filmes repercutiu nos meios críticos, caminhou por festivais dentro e fora do Brasil, produzindo interlocuções de Farkas e a rica teia de colaboradores com críticos europeus e cineastas de referência do gênero, como o francês Jean Rouch. A modernidade do documentário – contemporânea às experiências do chamado direto nos Estados Unidos e verité na França – consolidava a sua versão brasileira, alavancando um grupo de jovens cineastas e técnicos que, nas décadas seguintes, deixariam sua marca no cinema e na cultura brasileira como um todo. Sérgio Muniz, Paulo Gil Soares, Terezinha Muniz, Affonso Beato, Dolly Pussi, Lygia Pape, Manuel Horacio Giménez, Edgardo Pallero, Alberto Salvá, Julio Calasso, Vladimir Herzog, Caetano Veloso, Gilberto Gil, José Carlos Capinam, João Ramiro Mello, entre muitas outras pessoas, são parte essencial dessa primeira movimentação histórica em torno da produção desses filmes e seus desdobramentos.

Tal conjunto repercutiu na intelectualidade da época e dá início a uma movimentação na Universidade de São Paulo, que culmina na criação da divisão de produção de documentários no Instituto de Estudos Brasileiros (IEB-USP), catalisada em um primeiro momento por Paulo Emílio Salles Gomes. Para o IEB, são produzidos curtas de Geraldo Sarno e Sérgio Muniz, e o baiano Sarno, a partir da interlocução com estudos da nova sociologia e antropologia da época, formula o projeto de filmes originalmente batizado como Nordeste, que nos anos seguintes desaguaria no conjunto de 19 filmes reunidos sob o título de A condição brasileira. A ideia, que nasce como um conjunto de dez filmes sobre diversas manifestações culturais nordestinas, desenvolve-se mesclando um desejo de investigar práticas de produção cultural populares, fora do ambiente urbano, com um outro ímpeto, o de atualidade, o de olhar para como tais práticas sobreviventes de outros tempos se combinam com a urbanização crescente, a cultura de massas e constantes novos artefatos da tecnologia. Essas duas linhas perpassam diferentemente todos os filmes do conjunto, variando em ênfase, tom e matiz.
Em 1967, apoiados pelo IEB, Farkas, Sarno e Paulo Rufino pegam a estrada e, nessa viagem geram um primeiro conjunto de filmes – Vitalino-Lampião, Os imaginários, Jornal do sertão, dirigidos por Sarno e montados posteriormente –, que funciona como uma espécie de ensaio de uma empreitada que se dará um tempo depois, em 1969, agora “respondendo” ao Ato Institucional n. 5 com mais de uma dezena de filmes, que variam em duração, estilo, linguagem, construindo uma visão caleidoscópica do interior de Bahia, Ceará, Paraíba e Pernambuco. Assim se constituiu o projeto A condição brasileira – que posteriormente seria nomeado por um texto de Eduardo Escorel como Caravana Farkas, em referência à Caravana Holiday, do filme do alagoano Cacá Diegues, Bye bye Brasil, sucesso na década de 1980.
Padre Cícero (Geraldo Sarno, Paulo Gil Soares e Sérgio Muniz), Frei Damião (Paulo Gil Soares), A mão do homem (Paulo Gil Soares), Casa de farinha (Geraldo Sarno), Erva bruxa (Paulo Gil Soares), A morte do boi (Paulo Gil Soares), Região: Cariri (Geraldo Sarno), Beste (Sérgio Muniz), A vaquejada (Paulo Gil Soares), O homem de couro (Paulo Gil Soares), Rastejador s/m (Sérgio Muniz), Jaramataia (Paulo Gil Soares), Visão de Juazeiro (Eduardo Escorel) e Viva Cariri! (Geraldo Sarno) vão se somar aos filmes da viagem anterior ao Nordeste e formar o conjunto de A condição brasileira. É importante notar que a empreitada levantada por Farkas era um projeto não só de produção, mas de difusão. Apesar das diferenças de duração, linguagem e tratamento, a empreitada de Thomaz é realizada também sob o pretexto de um desejo de difusão em escolas e emissoras de televisão. Alguns filmes do conjunto serão reunidos no começo dos anos 1970 no documentário Herança do Nordeste. Até a Fotoptica, que era de propriedade da família Farkas, disponibilizou os filmes para aluguel junto a seu acervo audiovisual da época.
O conjunto dá passos ainda mais ousados na direção de uma exploração ainda maior das possibilidades do documentário, em grande parte dos filmes. A característica de exploração sonora se aguça, variando entre o som direto, da voz do homem, o constante uso de canções, seja do cancioneiro de domínio público ou das experiências da música moderna da época, fazendo com que a estrutura narrativa comente e adicione camadas diversas aos universos que os filmes proporcionam. Mesmo a presença frequente de comentários mais ou menos explicativos e descritivos em boa parte do conjunto acaba tendo uma função menos dominante do que outra expressão que “pegou”: “a voz do dono”, como escreveu Jean-Claude Bernardet no seminal livro Cineastas e as imagens do povo, da década de 1980. Muitas vezes, o impulso generalizante inerente da teoria e crítica eclipsa a diversidade de abordagem que encontramos em cada um dos filmes, realizados por diretores diferentes, com significativas variações em tom e estilo.
Hoje talvez não seja claro o papel que o aprofundamento na cultura popular representava no Brasil da ditadura militar, em especial pós-AI-5. Mesmo que eventualmente a literatura sobre cinema caracterize alguns desses filmes como excessivamente didáticos – só a revisão dos títulos pode nos oferecer tal resposta –, é preciso compreender que eles representam um exercício de subversão possível e uma tentativa de um projeto educativo antirreacionário, antiestablishment, que enxergava a força de uma sofisticação e inteligência brasileira que não nasce nos endereços dos poderes estabelecidos.
Portanto, nos programas que aqui apresentamos buscamos ao mesmo tempo um pouco da diversidade de temas e abordagens da produção de Farkas, que varia desde o registro que faz de Pixinguinha, Donga e seu grupo em 1954, até o extraordinário retrato amoroso de Hermeto Pascoal e seu clássico grupo no início dos anos 1980. O que perpassa os programas é um interesse na sociabilidade brasileira e em suas faces variadas. Mesmo nos retratos mais individuais, prevalece o foco no contexto, no coletivo, no grupo. Não por acaso, a trajetória de Thomaz Farkas é marcada pela constância da parceria e da revelação de novos quadros, refletindo em seu método uma ideia de país que só se materializa a partir do conjunto, do que não é exclusivo ou individual, do que é fruto de encontros. Essa ética ainda hoje tem a nos dizer, com sua inteligência alegre e informal. Viva.
Partes deste texto foram originalmente publicadas em “Olhar como convivência”, texto de Juliano Gomes que faz parte do catálogo Thomaz Farkas, todomundo, publicado pelo IMS em 2024.
A mostra Thomaz Farkas Filmes está em cartaz no cinema do IMS Paulista em março.