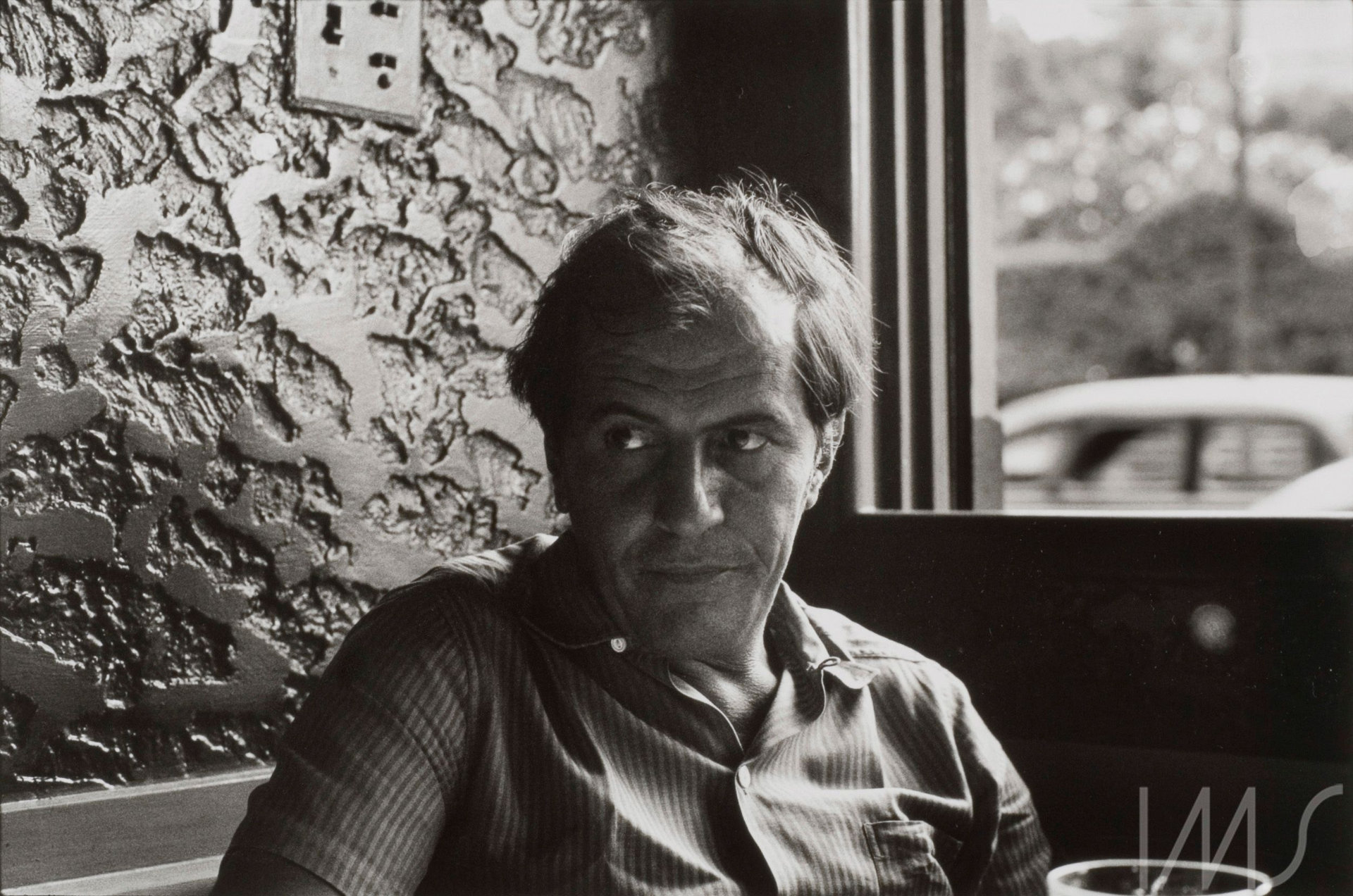
Devo começar dizendo que o tema exigiria um estudo longo, ou até mesmo um livro. O que se pretende aqui, no entanto, é apenas uma abordagem inicial, uma espécie de abertura de picadas a serem percorridas e ampliadas em análise da presença do azul na prosa e poética de Paulo Mendes Campos, o PMC, como é tratado no Instituto Moreira Salles, guardião de seu acervo.
Não é de agora que venho pensando no assunto. Na verdade, desde que li “Palavras pessoais”, crônica publicada inicialmente em Manchete de 5 de novembro de 1960 e incluída em O cego de Ipanema, do mesmo ano, fui tomada de encantamento, meu estado natural de ler o cronista mineiro, não só pelo conteúdo como pela forma. Nessa crônica, a sensibilidade do autor relativa à percepção do cego me despertou para as muitas outras ocorrências do efeito transformador do azul ou da simples presença dessa cor na sua obra, de modo geral.
“Palavras pessoais” se estrutura em três seções. A segunda delas, de apenas dois parágrafos, versa sobre a necessidade que o cego tem de sentir a cor azul. Na impossibilidade de traduzir as palavras do autor, sem perda da qualidade do texto, transcrevo a seguir os dois parágrafos:
Quando o cego, em reunião na casa dum amigo, disse que gostaria de viver numa cidade cuja temperatura oscilasse entre quinze e vinte graus e cujo céu todos os dias fosse azul, ninguém sentiu vontade de sorrir. Nem cheguei a sentir um alegre arrepio de tristeza. Ele falou com a voz clara e cheia de sentido. Nós todos entendemos, entendemos de repente um espaço emocional extraordinário, que desconhecíamos: o azul do céu não é uma cor, mas uma qualidade do mundo, uma luminosidade de todos os sentidos, uma fragrância, um ar mais delicado, um concerto de sons, uma transparência do universo. 1
Nos dias cinzentos, o mundo é opaco e áspero; as pessoas falam com um timbre de voz mais rouco e inquieto; os pássaros não cantam; a brisa é mais úmida; o ar, mais pesado. O cego desejava que todos os dias fossem azuis; precisava dos dias azuis mais do que nós, os distraídos na multiplicidade do mundo, dispersados em tantas sensações supérfluas. Um poeta disse uma vez que Deus é azul. Não creio. Mas creio nos poetas. Creio nos cegos. Creio no azul.
Foi, portanto, o encontro com o cego que levou o cronista a entender o “espaço emocional” do azul, e essa é uma descoberta magnífica porque admite todo um leque de sensações a partir da percepção da cor. Em seguida, como se lê acima, vem a afirmação surpreendente: “o azul do céu não é uma cor, mas uma qualidade do mundo, uma luminosidade de todos os sentidos”. No caso do cego, causa-lhe impacto na visão (que ele não tem).
Paulo Mendes Campos não é o primeiro cronista a negar uma cor. Rubem Braga, em “O pavão”, deixa de propor uma negação subjetiva no que diz respeito a tonalidades, como o faz PMC, para dar uma informação teórica que desmitifica a majestosa coloração que os leigos comumente associam a essa ave. Conta que, depois de pesquisar, descobriu que as cores das penas do pavão, realçadas em manchas redondas, provêm de “minúsculas bolhas d’água em que a luz se fragmenta, como em um prisma”, e não de pigmentos. Uma revelação e tanto feita pelo Sabiá da Crônica, que em nada tinha de científico.
Mas o assunto aqui é o cronista mineiro e é provável que, sendo ele homem de vasta leitura, tenha lido Diário de um homem supérfluo, de Turguêniev, em que o personagem Tchulktúrin, ao presenciar um pôr do sol, observa:
Dizem que para um cego a cor vermelha assemelha-se ao som de uma trombeta. Não sei até que ponto essa comparação é devida, mas, sem dúvida, havia como que um clamor naquele ouro chamejante do céu vespertino e no brilho purpúreo do céu e da terra.
Se de fato o leu, nosso cronista, que se impressionava com o azul e não com o vermelho, certamente reconheceu a alteração que causam uma e outra cor. “Um poeta disse uma vez que Deus é azul”, escreveu ele ao final da crônica, possível referência a Jean Cocteau, que, em parceria com Federico de Madrazo y Ochoa, é autor do libreto para o balé de um único ato intitulado Le Dieu Bleu (O deus azul). O espetáculo, com música de Reynaldo Hahn, estreou em 1912, em Paris, e contou com ninguém menos que Nijinsky, o genial bailarino que, na sua loucura, dizia ter começado “a dançar como Deus”. Era o papel perfeito para quem já se reconhecia divindade.
“Ou me entendem agora ou nunca: quero dizer o seguinte: o sol, o azul, o à toa, essas coisas estraçalhavam meus fantasmas, perdia-me deles”, escreve PMC em “Fim de semana em Cabo Frio”, atônito com o bem-estar, com a perfeição de tudo o que a cidade litorânea lhe proporcionava, afastando-o de suas dores humanas mais fiéis. Por isso, a cor que tanto o fascinava, se somada a outras maravilhas, compunha uma felicidade difícil de suportar.
Para não sairmos do estado do Rio de Janeiro, o leitor pode acompanhar o voo de uma gaivota “gratuita e vadia” que vem das Tijucas e passeia por Ipanema e pelo Leblon numa carioca “manhã azuladíssima” em que observa pessoas dos dois bairros. Um pouco da descrição dessa aventura, tema da crônica “Sobrevoando Ipanema”: “À esquerda, rochas morenas e suadas, um pouco mais acima os automóveis coloridos, mais alto as escarpas de pedras pardas, à direita o azul, embaixo as espumas leitosas”.
Mesmo uma peça íntima feminina em péssimo estado podia ganhar outro status se a cor fosse a de predileção do cronista: “Aquela mulher não atingira o telefone. O ventarrão desfraldava-lhe a saia. A calça dela era azul. Esburacada e imunda, mas azul”, escreve ele em “Um homenzinho na ventania”, garantindo integridade a esse item básico feminino pelo simples fato de ser azul. Mas foi em “Réquiem para os bares mortos” que ele juntou duas claras obsessões suas: o crepúsculo e o azul: “Há azulões no crepúsculo ou uma saudade de azulões".
Foi ainda sob o céu carioca que, na crônica “Um domingo”, o firmamento se apresentou em “uma cor de líquido azul”, assim como em “O reino das lembranças” ele descreve o “aro azul” que se formou na paisagem, “o único halo azul-azul do céu cor de chumbo”.
Se o cronista deixa o Rio, onde morou de 1945 até a morte, em 1991, e vai para o Nordeste ou para o Norte do país, jamais deixa de caracterizar os azuis que se lhe impõem, como acontece na crônica “Recife”, cidade que considera feminina e cuja brisa ritmada é “um arpejo na vogal A. Aaaaaa, diz o vento recifense”, ouve o cronista, que acaba se distanciando da capital pernambucana para considerar outras regiões: "Não se entende o Planalto Central sem o azul prestigioso do céu, não se entende o Sul sem as florações luminosas do crepúsculo, não se entende o Norte sem a primazia dos caudais mediterrâneos". Deslocando-se especificamente para o Norte, ele observaria algo em relação à cor que, de certo modo, se aproxima do azul esmagador de Mallarmé, que tanto o fascinava. Veja-se: “Que o Amazonas não fosse o maior rio do mundo em volume de água; o azul dos céus brasileiros não fosse tão escandalosamente azul”, escreveu em “Na minha opinião era melhor”.
Ao voltar-se para a Minas Gerais de sua origem, lê-se em “Mineiro brincando: fala de Minas”, na evocação da cidade de Congonhas: “Até o azulão do céu congonhês é mais duro, mais ciumento, obriga uma ação, remorso, sei não: uma justiça encravada”. E, se acontecia de se afastar da paisagem para se aproximar de personagens, como aconteceu ao escrever a crônica “Rua da Bahia”, via “o azul filtrado pelos séculos” de umas senhoras suíças “mais limpas do que a própria casa”.
Do ponto de vista autobiográfico, não é menos frequente a presença da cor: “Dou a alma pelo azul e traio o azul com o castanho” confessou em “Perfil a lápis”, crônica em que define sua personalidade em frases curtas, cortantes, como esta: “Amo acima de todas as coisas a sobriedade dos sentidos, mas dou um boi para ficar ubriaco2”. É justamente no campo da autobiografia que o azul talvez se faça mais presente, desde as lembranças do quintal de sua casa, onde ressalta “o azul sem o nada” na crônica “Imagens”, ou, o mais importante, o azul de sua terra, expresso na crônica “Azul da montanha”, ponto alto da repercussão desse matiz em sua alma.
O azul de Belo Horizonte, por exemplo. Que significação tem o azul da minha montanha? [...] Assim, se contar com meia dúzia de pessoas solidárias comigo na indagação desse azul-celeste, não me sentirei sozinho. Sete pessoas procuram compreender o azul do céu de uma cidade, tarefa inútil ou ridiculamente preciosa aos olhos dos outros, mas verdadeira e emocionante para elas.
Que transformações singulares ele traz para os habitantes da cidade? Que tonalidade de sentimento insinua nos espíritos? Que linguagem é o azul?
Por mais que respeite a erudição dos homens concretos, no plano social me oriente por ela, qualquer inquirição sobre o temperamento mineiro estará incompleta para mim, caso não admita a influência do azul no povo de Minas.
Em mim, dado a comparações livrescas, o azul de Belo Horizonte é puro azul de Mallarmé. Azul mallarmaico não define, antes amplia o segredo, enriquecendo-o de nuanças emocionais, tão mais abstratas qual mais real o seu vigor encantatório.
Assinalai do mestre francês todas as passagens referentes ao azul, e chegareis a um estranho conhecimento da aridez, do fracasso, do terror da experiência absoluta. Conquistareis para sempre um susto novo, um medo inédito. Mais do que isso, roçareis a sabedoria divinatória do azul, o que é mais completo, indizível e perfeito.
Coisas de poeta, dirão; coisas de poeta, repetirei com tristeza. Porque a minha dor e o meu despeito é não ser bastante poeta para contar com estilo de homem a verdade desse e dos outros mistérios.
Bem antes da publicação de “Azul da montanha”, na revista Manchete de 7 de maio de 1960, ele expressara a força do azul de Mallarmé em carta a Otto Lara Resende, escrita em agosto de 1945 e publicada pelo IMS com o título Carta a Otto ou Um coração em agosto: “Não mais os céus implacáveis, mas um céu implacável, desoladoramente azul, o céu desesperadamente azul de que fala o nosso Mallarmé”.
Referia-se ao poema “L'Azur”, que abre assim: “De l’éternel azur la sereine ironie/ accable, belle indolemment comme les fleurs,/ le poète impuissant qui maudit son génie/ a travers un désert stérile de douleurs”. 3 O poeta, com a alma vazia e oprimido pela ironia do azul do céu, símbolo do ideal, não consegue criar. Antes rende-se ao tédio e implora às brumas que formem um teto e o protejam: “Brouillards, montez!” 4. Tomado (hanté) pelo desespero da esterilidade criadora, sem ter como fugir, encerra a nona e última estrofe do poema com o verso: “Je suis hanté. L’Azur! L’Azur! L’Azur! L’Azur!”
Se lemos o Paulo Mendes Campos mais, vamos dizer, metafísico, não faltará outra caracterização do azul, como se lê na crônica “Verso e prosa”:
No princípio do amor existe o fim do amor, como no princípio do mundo existe o fim do mundo. Existem folhagens irisadas pela chuva, varandas varadas de luz, montanhas de gaze azul amontoadas no horizonte. [...] No princípio do amor a criatura se veste de cores mais vivas, blusas preciosas, íntimas peças escarlates, linhas sutis, sedas nupciais, transparências plásticas, véus de azul deserto, tonalidades de céu, de pedra [...]. Ou, como em “A puberdade abstrata”: “O azul se distribui sem limites, as bocas vão bebê-lo. Por ele os simples e os sábios morrem de morte mais lúcida e simpática”. Ou ainda em “Memorando de um dia”, quando metaforiza: “E eis que atravessei um vale de porcelana e aço. Cruzado por um rio amarelo, outro azul”.
Azul prestigioso, azul-azul, azul sem o nada, azul deserto, azul mallarmaico, azul gozoso (citanto Rilke na crônica “Flores de papel”), são tantas as nuances distinguidas por PMC que causa certa estranheza não constar de seus mais de 50 cadernos referência ao poeta pernambucano Carlos Pena Filho, seu contemporâneo, autor do “Soneto do desmantelo azul”, e em cuja pequena e notável obra poética Renato Campos contou quarenta ocorrências da palavra “azul”. Aquele que chegou a se dependurar “nos cabelos azuis de fevereiro”, como se lê no último verso do “Soneto principalmente do carnaval”. Morto em 1960, aos 31 anos de idade, Pena Filho partia no momento em que PMC, já consagrado como notável cronista, brilhava com o azul nas colunas de crônicas dos mais importantes jornais cariocas. O pernambucano e o mineiro não tiveram tempo de se aproximar. Resta o azul perene que deixaram.
1. O grifo é meu.
2. Bêbado.
3. De um infinito azul a serena ironia/ Bela indolentemente abala como as flores,/ O poeta incapaz que maldiz a poesia/ No estéril areal de um deserto de dores. (Tradução de Augusto de Campos. Mallarmé, por Augusto de Campos, Decio Pignatari e Haroldo de Campos. São Paulo: Perspectiva/Edusp, 1974.
4. “Vinde, névoas!”

Elvia Bezerra é pesquisadora de literatura brasileira e colaboradora no IMS.
