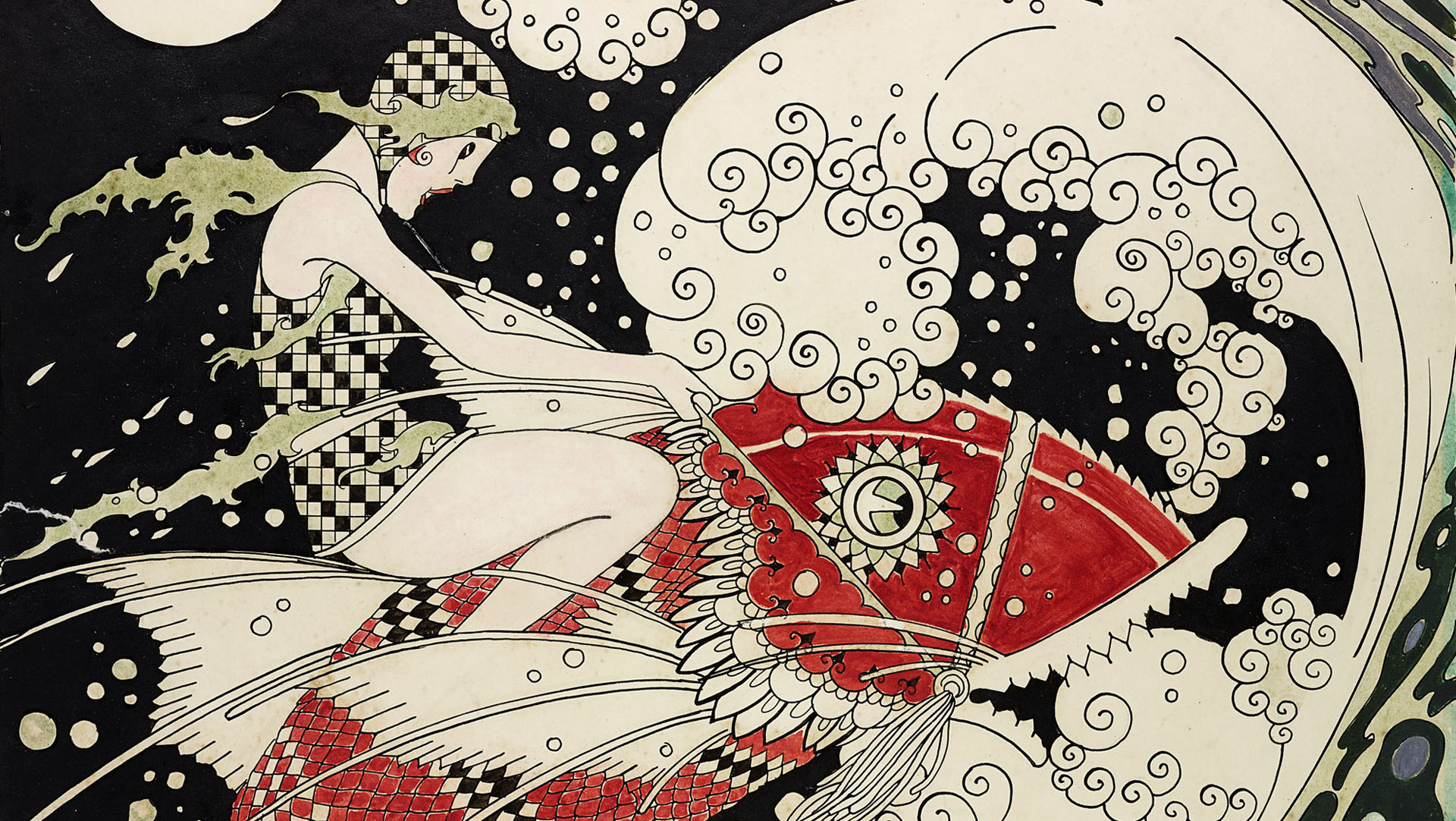Não é de hoje que os vilões dos quadrinhos e do cinema exercem um fascínio maior que o dos heróis propriamente ditos. Sem querer fazer psicanálise de botequim, talvez se possa dizer sobre eles o que já se disse sobre os monstros dos contos infantis e dos filmes de terror: que encarnam pulsões, desejos e medos dos quais queremos nos livrar. Se a morte do monstro é um triunfo da civilização contra as forças do inconsciente, a vitória do herói sobre seu arqui-inimigo é um triunfo da ordem social vigente, uma restituição do status quo.
À luz dessa ideia, o surpreendente Coringa, de Todd Phillips, representa uma torção curiosa do esquema, não tanto por assumir o ponto de vista do vilão, mas por colocar em evidência que o mal não está nele, mas na própria divisão do mundo social em winners (vencedores) e losers (perdedores), num permanente reality show (ou comédia stand-up) de opressão e humilhação.
Não por acaso, o filme começa com a agressão do protagonista por um grupo de pivetes “chicanos”. Mais do que confirmar o ditado do roto e do rasgado, a cena em que oprimidos se fazem opressores reproduz o modo de funcionamento de uma sociedade insana.
A noção de insanidade, aliás, é uma das muitas sutilezas desse Coringa. A narrativa se constrói a partir do protagonista, acompanhando-o o tempo todo, mas se trata de um ponto de vista instável, em que o real e o imaginário se confundem, obrigando o espectador a revisões e correções constantes e mantendo-o na incerteza até o final, e mesmo depois.
Loucura contagiosa
A loucura do Coringa impregna a loucura do mundo, e é impregnada por esta. Na construção visual das cenas, o que é “real” e o que é delírio têm a mesma nitidez, a mesma densidade. Diferentemente da maioria dos filmes da franquia Batman, aqui o espaço físico não é estilizado: sua Gotham City é uma Nova York com um pouco mais de lixo e sujeira. É do nosso mundo que Coringa fala, ou, mais precisamente, da América neoliberal que exalta o empreendedorismo, cultua a celebridade, corta serviços sociais (incluindo a assistência psiquiátrica e os remédios do protagonista) e joga os excluídos na sarjeta ou no crime.
Falou-se do paralelo entre o filme de Todd Phillips e o Taxi Driver de Martin Scorsese, principalmente por causa da presença de Robert De Niro no elenco, no papel de um veterano comediante de sucesso, Murray Franklin.
Mas é com outro filme de Scorsese, O rei da comédia (1982), que Coringa conversa de modo mais íntimo. Se ali De Niro encarnava um bocó absoluto que sonhava em ser comediante como seu ídolo (encarnado por Jerry Lewis), chegando ao ponto de sequestrar este último para aparecer em seu programa de TV, aqui se opera uma inversão: ele é o ídolo, e Arthur Fleck, o Coringa em formação, mira-se no seu exemplo e quer aparecer em seu programa.
Os pontos de contato entre os dois filmes são inúmeros: como Rupert Pupkin (o bocó de O rei da comédia), Fleck mora com a mãe, delira com cenas de glória e aplausos, quer impressionar a mulher desejada e acaba impelido para o crime. A solidão, o ressentimento, a alienação, o delírio – e o crime – os aproxima também de Travis Bickle, o motorista de Taxi Driver.
Realismo social
Mais do que angariar a cumplicidade dos cinéfilos, essas conexões filiam Coringa a uma vertente cinematográfica de crítica social que teve nos anos 1970 um de seus momentos mais fortes nos Estados Unidos e que nas últimas décadas foi um tanto sufocada por uma acentuada infantilização das produções e do público. Que Todd Phillips tenha adentrado justamente a arena dos blockbusters de super-heróis para resgatar esse viés de realismo social é algo que torna seu filme ainda mais singular.
Talvez por isso Coringa esteja atingindo a rara condição de obra respeitada pela crítica e prestigiada pelo público. Leão de Ouro em Veneza e megassucesso de bilheteria são coisas que não costumam se conciliar.
Não mencionei até agora o nome do ator que encarna o Coringa. É que a atuação de Joaquin Phoenix mereceria um texto à parte, por sua extrema densidade e complexidade. Toda a aflição do personagem, em seus infinitos matizes, parece se expressar não apenas em seu riso amargo, mas em cada fibra de seu corpo magro, em cada movimento de sua dança ao mesmo tempo elegante e desengonçada. É um ator físico e intenso como De Niro em seus melhores momentos. Só a sua performance já valeria o filme.
Eduardo Coutinho
Um mergulho na vida e na obra de um dos nossos maiores cineastas é o que proporciona aos cinéfilos e curiosos aOcupação Eduardo Coutinho, que vai até 24 de novembro no Itaú Cultural da avenida Paulista, em São Paulo.
Com curadoria do crítico e pesquisador Carlos Alberto Mattos, um dos maiores conhecedores da obra de Coutinho e do documentário brasileiro em geral, a mostra exibe documentos, roteiros, fotos, vídeos e, claro, filmes do diretor de Cabra marcado para morrer, Santo forte, Edifício master e tantos outros títulos essenciais da nossa filmografia.
Completa o evento a publicação do alentado livro Sete faces de Eduardo Coutinho (Boitempo Editorial), do próprio Mattos, baseado em longas entrevistas do autor com o documentarista e num extenso trabalho de pesquisa, misturando de modo exemplar biografia, crítica e história.
Se a palavra “imperdível” ainda tem significado, ela se aplica aqui.