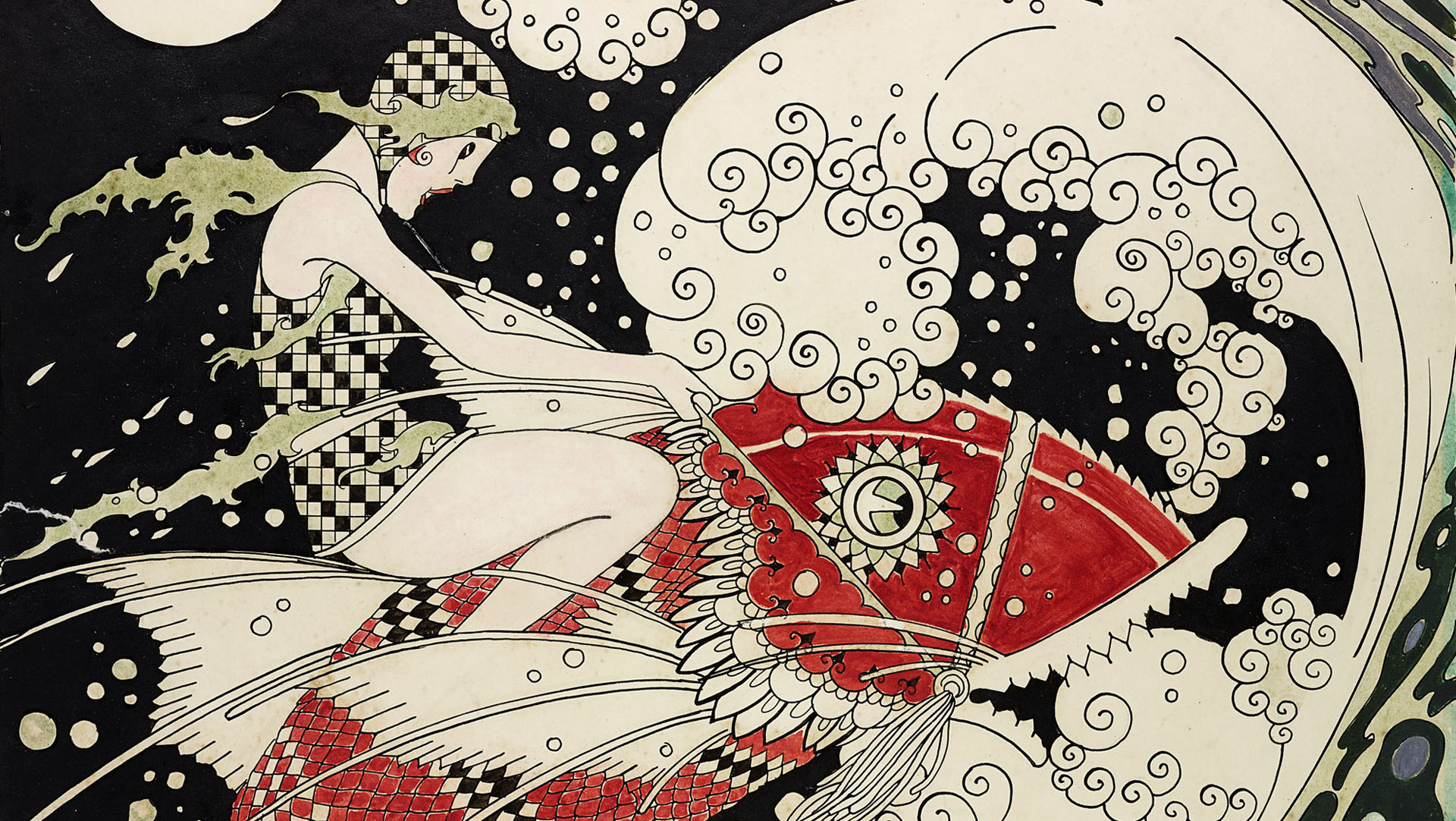Uma preciosidade entra em cartaz nesta quinta-feira (4 de fevereiro) na plataforma digital Belas Artes à la carte: o filme de estreia de Stanley Kubrick, Medo e desejo, realizado em 1952 e lançado no ano seguinte.
Está longe de ser uma obra-prima à altura da filmografia luminosa de seu diretor, que chegou a renegar esse primeiro passo como uma tentativa amadorística e tentou até destruir seus negativos. Não era para tanto. Visto hoje, com o distanciamento de quase sete décadas, é estimulante encontrar ali, em embrião, algumas das linhas mestras do cinema desse grande artista.
Guerra abstrata
A história é ao mesmo tempo simples e pretensiosa. Numa ilha não identificada, quatro combatentes (um tenente, um sargento e dois cabos) caíram com seu aviãozinho atrás das linhas inimigas e precisam arranjar um meio de escapar dali. Na própria locução que abre o filme, é dito que se trata de “uma guerra qualquer”, ou simplesmente “a guerra”.
Com baixíssimo orçamento em mãos (inicialmente US$ 13 mil, que subiram para US$ 40 mil com a sonorização e a sincronização), Kubrick juntou um punhado de atores iniciantes ou de segunda linha (entre eles o futuro cineasta Paul Mazursky) e filmou sua parábola antibélica nas montanhas próximas a Los Angeles, com uma câmera Mitchell alugada.
Foi o próprio dono da câmera que ensinou o diretor a operá-la. Kubrick, então com 24 anos, só tinha feito fotos fixas. Largou o emprego na revista Look para se aventurar no cinema. E entrou com tudo: além de dirigir, ele produziu, fotografou e montou seu primeiro longa, com roteiro escrito por seu ex-colega de colégio Howard Sackler, que se tornaria um dramaturgo importante (é autor, por exemplo, de A grande esperança branca).
Ao explicar uma parte das dificuldades que teve com esse seu primeiro longa-metragem (aliás, não tão longo: 62 minutos), Kubrick declarou: “O problema com a Mitchell é que ela não é uma câmera reflex e é preciso ver pelo visor a seu lado, o que torna mais difícil conseguir uma composição exata”. Quem conhece os enquadramentos precisos dos filmes de Kubrick sabe que não se trata de um detalhe menor. Ainda assim, a bela fotografia em preto e branco é uma das qualidades que sobrevivem bem desta primeira experiência kubrickiana.
As próprias deficiências do filme servem para iluminar, por contraste, a grandeza do cinema que o diretor faria depois. A abordagem “abstrata” da guerra, por exemplo, hoje soa um tanto inócua depois de termos visto Glória feita de sangue (1958), Dr. Fantástico (1963) e Nascido para matar (1987), filmes em que a postura antibélica universal estava ancorada em contextos históricos precisos: respectivamente, a Primeira Guerra Mundial, as tensões da Guerra Fria e a Guerra do Vietnã.
Civilização e barbárie
A dualidade intrínseca do homem, cindido entre civilização e barbárie, é tematizada de modo explícito em Medo e desejo, e seria desenvolvida com mais sutileza em todas as obras posteriores do cineasta. Nesse filme de estreia, o tema aparece não só nos diálogos, mas também num procedimento de direção: o mesmo ator (Kenneth Harp) que interpreta o tenente dos fugitivos encarna também o general inimigo. Seu subordinado Fletcher é representado pelo mesmo ator (Stephen Coit) que faz o papel do braço-direito do general. Em dado momento, eles matam seus “duplos”. A estupidez inútil da guerra é enfatizada por uma decisão de casting.
A utilização de atores em papeis duplos se explica também pela pobreza de recursos. O elenco é medíocre e, para piorar, a escassez de película inviabilizava a repetição de tomadas. É tentador pensar que a obsessão perfeccionista do Kubrick maduro, que o levava a enlouquecer os atores, forçando-os a repetir uma cena dezenas de vezes, era uma espécie de compensação tardia dessa carência inicial.
Outra curiosidade a ser observada é o papel reservado à única personagem feminina do filme, a camponesa presa pelos soldados em fuga (Virginia Leith). Amarrada a uma árvore, ela é abusada por um deles (Paul Mazursky), que oscila entre o afeto romântico e a pura luxúria. Sem abrir a boca e sem entender o que eles dizem, sua mera presença é um elemento de desequilíbrio naquele universo masculino.
É interessante cotejar essa personagem com outras mulheres anônimas que surgem solitárias em filmes de guerra de Kubrick: a frágil cantora alemã que enternece os homens embrutecidos de Glória feita de sangue e a vietcongue escondida que quase dizima um batalhão de americanos em Nascido para matar. A mulher é sempre o imprevisto, o imponderável.
Também na montagem há em Medo e desejo uma alternância de talento e inépcia. Talento no esboço de uma montagem orgânica, conceitual e não linear (por exemplo, na cena em que os protagonistas massacram os inimigos enquanto estes faziam uma refeição). Inépcia na dificuldade de construir continuidade em certas sequências, até mesmo com momentos em que é “saltado” o eixo que dirige os olhares. Um personagem fala para alguém e, no que seria o contraplano, este alguém aparece olhando para outro lado.
Primazia da imagem
O próprio recurso a uma autoridade intelectual externa, como as referências à Tempestade de Shakespeare no monólogo do soldado diante da camponesa amarrada, pode ser visto como uma espécie de muleta da qual Kubrick se livraria rapidamente na sua filmografia posterior. Toda a sua erudição literária e artística seria interiorizada de tal maneira que passaria a se expressar de modo muito mais sutil e “invisível”.
Disso tudo, sobram as imagens. Uma jangada à deriva num rio desconhecido, levando um soldado enlouquecido e outro moribundo, é algo muito mais forte que o discurso solene que ouvimos na trilha sonora. Talvez o estudioso Marcius Cortez não exagere ao dizer, em seu livro Stanley Kubrick, o monstro de coração mole (Editora Perspectiva, 2017): “Sugerimos que você experimente ver o filme sem som. Em nossa opinião, Medo e desejo melhora sem os diálogos e sem a literatice do roteirista Howard Sackler”.
Com ou sem som, é um rascunho fascinante da obra de um dos grandes artistas do cinema moderno.
Made in France
Vai até o próximo dia 15 a 11ª edição do My French Film Festival [o link: https://www.myfrenchfilmfestival.com/pt/ ], que traz trinta e três produções francesas de curta e longa metragem, em sua maioria inéditas no Brasil. Além da plataforma do próprio festival, os filmes podem ser vistos também no Belas Artes à la Carte, na Looke, no Spcine Play e no Supo Mungan Plus.
Um recorte que pode ser interessante é o de obras que tratam da vida após a morte, começando pelo clássico Orfeu (1950), recriação – e subversão – moderna do mito grego por Jean Cocteau, e seguindo com os recentes Prata-viva (Stéphane Batut, 2019), e Heróis nunca morrem (Aude Léa Rapin, 2019).
Em Prata-viva (Vif-argent, cuja tradução mais correta seria mercúrio ou azougue), um rapaz descobre que morreu, mas ainda consegue transitar entre os vivos, como um misto de anjo e fantasma, ajudando quem morre a passar para o outro lado. Uma mistura improvável de Asas do desejo com Ghost.
Já Heróis nunca morrem parte de uma premissa fantástica (um jovem francês está convencido de que é a reencarnação de um bósnio morto no dia do seu nascimento), passa por um questionamento realista e ao final retorna ao sobrenatural sobre outras bases. Mais do que isso não se pode dizer. É um filme de estreia que tem como trunfo seu dispositivo narrativo: é todo filmado como se fosse um documentário de viagem, quase um reality show em movimento, com várias viradas quanto a quem está enganando quem.
Mais estritamente realistas, e igualmente interessantes, são os dramas Camille (Boris Lojkine, 2019), inspirado na história real da fotojornalista Camille Lepage, assassinada quando cobria a guerra civil na República Centro-Africana, e Donas de alegria (Frédéric Fonteyne e Anne Paulicevich, 2020), sobre mães de família francesas que à noite cruzam a fronteira e trabalham como prostitutas na Bélgica.
Outro destaque da programação é a animação Josep (Aurel, 2020), recriação ficcional da incrível trajetória do artista plástico catalão Josep Bartoli, que lutou na Guerra Civil Espanhola, refugiou-se na França, foi parar em campos de concentração e fugiu para o México, onde se tornou amante de Frida Kahlo.
A febre
Chega à Netflix um dos melhores filmes brasileiros dos últimos anos, A febre, de Maya Da-Rin, sobre o qual escrevemos quando saiu vencedor do festival de Brasília de 2019, depois de premiado também em Locarno, Chicago e Mar del Plata. De lá para cá, a tragédia indígena se agravou, tornando-o ainda mais pungente.