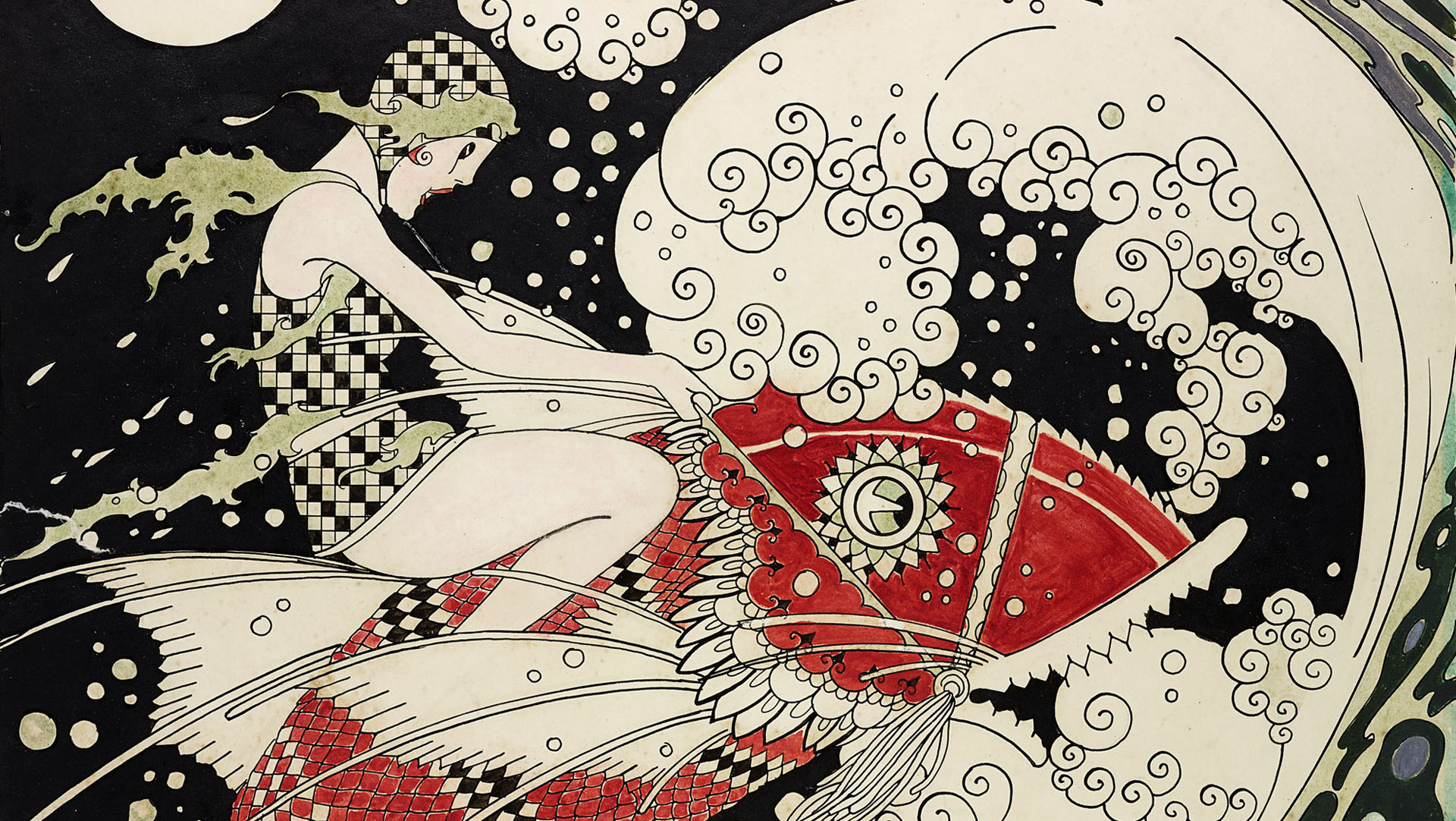Negros, brancos, pobres, ricos, homens, mulheres, crianças, idosos. Todos, sem distinção, ganharam do fotógrafo o mesmo olhar cuidadoso, perfeccionista, que criava e recriava ângulos, enquadramentos, figurinos, luz e cenários em busca da melhor composição. Na primeira metade do século passado, uma cidade inteira se viu igualada na elegância discreta burilada pela técnica e pela sensibilidade do mineiro Chichico Alkmim (1886-1978), fotógrafo que ajudou a fazer de Diamantina uma terra de muitos e expressivos retratos na parede.
Durante quase cinco décadas, entre 1907 e 1955, o autodidata Francisco Augusto Alkmim dedicou-se a fazer excepcionalmente bem o que escolhera como profissão, e sem qualquer ambição de revolucionar a arte. Apesar disso, ou talvez por isso, foi um mestre em seu ofício, como revelam as mais de 300 imagens reunidas na exposição Chichico Alkmim, fotógrafo, que será inaugurada no Instituto Moreira Salles do Rio de Janeiro no dia 13 de maio de 2017, às 18h, sob a curadoria do poeta Eucanaã Ferraz, consultor de literatura do IMS.
A mostra, não por acaso, abrirá no dia em que se comemora o 129º aniversário da abolição da escravidão – data que também será lembrada com a exibição, às 16h, de Terra deu, terra come (2010), de Rodrigo Siqueira, ambientada no quilombo Quartel do Indaiá, em Diamantina. No significativo conjunto selecionado por Eucanaã, impressiona o grande número de retratos de negros e da gente humilde da cidade, já um garimpo em decadência na época em que Chichico, nascido na fazenda do Sítio, município de Bocaiuva, se radicou por lá, em 1912, abrindo seu primeiro ateliê. Esses rostos aparecem tanto nas fotografias mais posadas de estúdio, em meio a cenários ornamentados por painéis pintados com flores, lagos e florestas, como também nos registros mais simples e rápidos feitos para documentos oficiais.
O curador lembra que o fotógrafo viveu muito tempo em São João da Chapada, perto de Diamantina, um lugar povoado por ex-escravos que permaneceram ali após o fim da escravidão. “Hoje ainda tem uma população majoritariamente negra, descendente de escravos. Todos aqueles negros usando terno, botas e chapéus que vemos nas fotografias ainda circulam por lá, podem ser vistos no vídeo que acompanha a exposição”, conta o poeta, que visitou a região. “Perguntei ao neto dele, Fernando Alkmim, sobre a presença maciça de negros nas fotos, e ele disse que eram os amigos do avô. Muitos nem pagavam pelo trabalho. Então quando ele pensava nos amigos do avô, que o visitaram até o final da vida, eram essas pessoas”.
Em qualquer tipo de registro, a população negra e pobre ganhou de Chichico, considerado o primeiro cronista visual da Diamantina do início do século XX, o exato tratamento dispensado aos demais, ajudando assim a compor um painel precioso da formação histórica, cultural e social do Brasil. Estão lá, num igualitário patamar, os brancos aristocratas e as famílias negras, expostos com “a mesma elegância, a mesma dignidade, o mesmo charme, o mesmo cuidado com o figurino e com a beleza”, observa Eucanaã.

E, mais importante, as imagens congeladas no estúdio evidenciam o processo contínuo da construção de identidade e narrativas próprias por parte de uma população privada de sua liberdade até poucos anos antes. Ali eles “não são apenas uma categoria; não estão diluídos numa coletividade; não são os trabalhadores; não são os pobres; não são os negros. Têm histórias singulares como todos os outros fotografados”, escreve Eucanaã no catálogo da exposição, que será lançado também no dia da abertura e traz ainda textos dos historiadores e pesquisadores Pedro Karp Vasquez, Marcos Lobato Martins e Dayse Lúcide Silva Ramos, os dois últimos de Diamantina (Dayse é autora de uma tese de doutorado sobre Chichico).
A paixão pela câmera de fole e negativos de vidro
Apesar disso, o fotógrafo não parecia enxergar a dimensão do próprio trabalho, sociológica ou artisticamente falando, mesmo depois de encerrar suas atividades. Sabe-se que era bem informado sobre todas as inovações tecnológicas que chegavam com a modernização do país, embora nunca tenha aberto mão da sua tradicional câmera de fole e dos negativos de vidro – mais de cinco mil deles, além de algumas dezenas de fotografias originais, estão sob a guarda do IMS em regime de comodato desde 2015. Numa das salas, aliás, que está sendo chamada de Museu de Bolso, o público poderá ver o funcionamento de uma câmera de fole, além de 252 negativos originais.
“Enquanto Chichico viveu, nem ele ou a família tinham essa relação com a fotografia. Fernando disse que nunca conversou com o avô sobre o assunto”, lembra o curador. “Ele falava das viagens, das histórias de quando era tropeiro, quando vendia joias, mas não sobre fotografia. Via a profissão como qualquer outra, daí o nome da exposição, Chichico Alkmim, fotógrafo. Ele fazia retratos, fotografava batizados, casamentos porque as pessoas encomendavam, pronto. E isso é lindo, porque a fotografia inclui tudo, desde o artista mais conceitual e elaborado, até pessoas que fazem dela um ofício para sobreviver”.
Ao ser convidado para a curadoria, Eucanaã entendeu que o que o aproximava do mineiro era o fato de ambos não fazerem parte do mainstream da fotografia. “Acho que queriam um outro olhar. Não sou um estudioso desse mundo, estou completamente fora dele. Sou meio Chichico, estou na periferia da fotografia”, brinca o poeta. “Ele foi um retratista de seu povo, de sua cidade. O IMS está trazendo-o para dentro da história da fotografia, e a partir de agora ele está conversando diretamente com Marc Ferrez, Gautherot, todos os grandes fotógrafos do acervo da casa. Está no cânone, digamos assim”.

Mergulhado no acervo, Eucanaã percebeu de imediato o potencial de duas características da produção de Chichico. A primeira são os retratos de pessoas diversas registrados num único negativo de vidro, técnica do fotógrafo para aproveitar espaço, já que as imagens não precisavam de tanta definição, eram normalmente feitas para documentos oficiais. Num negativo de 13 x 18cm, por exemplo, ele conseguia abrigar até oito retratos.
“A primeira vez que vi esses negativos entendi que eles já eram em si uma obra incrível, que havia ali um tesouro. Algumas imagens são fora de foco, não têm a mesma elaboração de outras, mas ao mesmo tempo isso dá a elas uma coisa muito impressionante, que é exatamente o fato de que ali o fotógrafo parece desaparecer. E quando o fotógrafo desaparece, a pessoa fotografada aparece ainda mais”, pondera Eucanaã. Para ele, o conjunto antecipa em algumas décadas uma certa crueza e dureza buscada pelos fotógrafos do mundo inteiro, a partir dos anos 60, nos rostos de cidadãos comuns, pobres, numa “espécie de reação ao mundo burguês bem arrumado, bem comportado”. “Chichico fez isso muito antes, e sem procurar nada. Então existe alguma coisa muito moderna nessas fotos, que não era a intenção original, um projeto do Chichico, mas está lá, e nosso olho reconhece”. Outro fotógrafo conterrâneo de Chichico, Assis Horta, 31 anos mais jovem e discípulo do primeiro, também se consagraria com os registros de fotos expressivas de trabalhadores.
O que se vê além do que se vê
Para a exposição, que ocupa seis salas da casa principal na Gávea, além da Pequena Galeria, Eucanaã optou por mostrar a ampliação do negativo por inteiro, com todos os rostos juntos, algo que certamente Chichico não faria – o objetivo era recortar um a um na edição. O curador voltou a “desobedecer” a lógica do fotógrafo ao vislumbrar um segundo conjunto do acervo: as imagens que exacerbam ainda mais o extracampo, ou seja, tudo o que está armazenado nos negativos, mas não seria mantido no processo final de revelação e edição.
São as fotos feitas no estúdio (chamado então pelos fotógrafos de ateliê, numa evocação da época dos pintores) bem iluminado, devidamente paramentado com móveis, objetos e painéis pintados à mão que emulavam bosques e outros paraísos artificiais à guisa de cenário. Diante deles, indivíduos ou grupos de familiares e amigos se deixavam eternizar em figurinos e adereços finos – muitos certamente cedidos pelo fotógrafo – e poses cuidadosamente elaboradas, como de praxe naquele tempo.

Contudo, além desse conjunto humano coreografado com elegância por Chichico – ele mesmo lembrado pelo apuro ao se vestir, sempre metido em ternos bem cortados –, permanecem à vista do espectador detalhes das paredes, pedaços do chão e alguns objetos ou pessoas que seriam eliminados adiante, na edição, em benefício da beleza e harmonia do conjunto definitivo. São interferências que vão agregando, como lembra Eucanaã, novas camadas de significação à obra do artista. Como na imagem de uma família branca, sentada diante de um painel segurado, de um lado, pela mulher do fotógrafo, Miquita, vestida com roupas muito simples, e do outro por uma criança negra, que provavelmente trabalhava na casa.
“Quem está sustentando aquela cena, o pano de fundo, a fantasia, a beleza, o registro daquela família branca patriarcal é uma mulher e a criada negra. O que não apareceria depois num álbum de família? Então há uma explicitação de forças que estão em jogo ali. Forças sociais que têm a ver com gênero, classe social, formação étnica… Se fizermos o corte perde-se isso tudo”.
Manter todo o entorno que Chichico eliminaria em sua edição derradeira foi uma forma de mostrar também a evolução da linguagem e do apuro técnico do fotógrafo, e ressaltar, afirma Eucanaã, toda a qualidade e vibração contidas na obra do autor. O que se mostra de imediato é uma “memória do ateliê”, como ele funcionava, o que ficava em volta. “Depois, você revela a mágica do próprio fotógrafo, o truque ilusionista de criar uma floresta, um bosque, um lago, tudo é uma fantasia. É uma fotografia tão forte que pode suportar esse tipo de interferência. É tão incrível que você pode mostrar toda a mágica por trás e ela se torna mais incrível ainda. São poucas obras, inclusive contemporâneas, que podem prescindir dessa mágica”.
Além do primoroso trabalho no estúdio, Alkmim também voltou a lente de sua câmera de fole para as ruas de Diamantina, cidade com uma história de glória vivida no auge do período da mineração, no século XVIII, e terra de uma mulher marcante, Chica da Silva, a escrava alforriada que reinou nos salões aristocráticos ao lado de um riquíssimo negociante de diamantes, com quem teve 13 filhos.

Os registros externos de Chichico, quase sempre feitos em encontros de amigos, de estudantes ou festas familiares, dão a conhecer ao espectador do século XXI pedaços e memórias da cidade outrora pujante, que guardava e ainda guarda uma suave beleza, desde 1999 reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. “É uma cidade construída em meio a uma muralha de pedras, que é a Serra do Espinhaço, e no entanto tudo nela é delicado. Toda a ornamentação das igrejas é em madeira, as molduras das janelas”, conta Eucanaã. “Tem muito a ver com a elegância das fotos do Chichico, com os personagens que aparecem ali, todos sempre austeros, mas com uma certa leveza”.
Imagens da cidade flagrada por Chichico estão à vista no corredor, expostas sobre mapas antigos de Minas Gerais, e na última sala, que reúne também os chamados anjinhos, fotografias de crianças mortas, uma maneira popular na época de manter na família uma lembrança dolorida, mas concreta, de alguém que já se foi. Ao registrar com extrema delicadeza esses anjinhos, e também outras cerimônias e personagens, Chichico parece estar trabalhando em seu ateliê, como observa Eucanaã, que considera a produção feita em estúdio mais relevante na trajetória do artista mineiro.
“Assim, paisagens parecem fundos para os personagens que posam pequeninos contra os cenários. Tudo parece se resumir nessa diferença de escala, como se o olhar do fotógrafo levasse o estúdio para a rua. Diante de seus olhos, no entanto, passava um mundo em transformação”, escreve o curador no catálogo da mostra.
Um fotógrafo em diálogo com seu tempo
A exposição se encerra na Pequena Galeria, onde está ressaltado um outro aspecto da cidade: seu viés musical. “Quem, conhecendo Diamantina, será capaz de não gostar de Diamantina? Mesmo não conhecendo: ouvindo falar. Pois, entre outras excelências, povo de Diamantina é povo que canta, e isto significa riqueza de coração. Canta, sem necessidade de festival de canção, essa psicose do grito que já começa a invadir cidades mineiras”, resumiu outro mineiro, o poeta e escritor Carlos Drummond de Andrade, na crônica “Encanto de Diamantina”, publicada no Jornal do Brasil em 1972, que também está à mostra na exposição. Além das fotografias de diversos grupos musicais fotografados por Chichico, o público poderá ver cinco discos do acervo de música do IMS, com arranjos para banda feitos por nomes como Ernesto Nazareth e Catulo da Paixão Cearense. “Provavelmente era o que Chichico ouvia em sua época em Diamantina”, conta Eucanaã.
Seja nos registros dos meninos de pés descalços espalhados pelas ruas – como os flagrados num grupo de senhores bem vestidos –; nas sofisticadas fotos de estúdio ou nas celebrações públicas, a obra de Chichico revela o que está além das imagens. Como escreve Eucanaã, o fotógrafo “construiu um diálogo com o seu tempo, marcado pela discrição, pela raridade, pelas presenças e ausências, pelas ambivalências que tangenciaram o acontecer da vida na cidade do interior de Minas Gerais”.

***
SERVIÇO
Chichico Alkmim, fotógrafo
Visitação: de 13 de maio, às 18h, a 1 de outubro de 2017
De terça a domingo, das 11h às 20h
Instituto Moreira Salles – Rio de Janeiro
Rua Marquês de São Vicente, 476, Gávea
Tel.: (21) 3284-7400
Visitas mediadas para grupos: agendar pelo telefone (21) 3284 7485 ou educativo.rj@ims.com.br